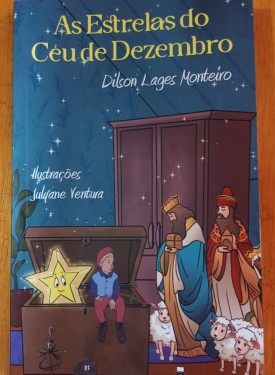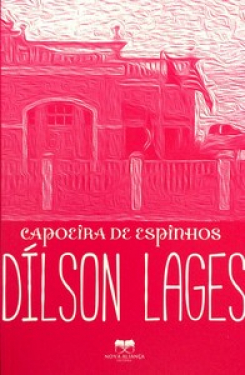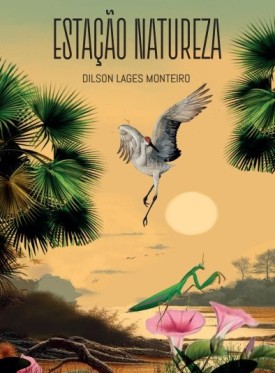O que é pobre e o que é minoria? Ainda as cotas.
 Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 22/03/2015, às 18H56
Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 22/03/2015, às 18H56
[Paulo Ghiraldelli Jr.]
Ser pobre é uma coisa, ser preto é outra coisa. Minorias por etnia, orientação sexual e gênero são minorias sociológicas, não são definidas por questões numéricas, e sua inserção no vagalhão pelo reconhecimento[1] tem origem, principalmente, no contexto social norte-americano. O pobre não é nem minoria sociológica e nem minoria numérica, ao menos não no Brasil. Sua luta por reconhecimento teve impulso por conta da mudança cultural advinda da hegemonia da sociedade do trabalho[2], algo originário da Europa.
A luta das minorias se insere no contexto da política liberal americana. Por sua vez, a luta dos pobres se insere no contexto da luta dos trabalhadores, organizados em geral pela política da social democracia europeia. Essas lutas se fundiram segundo geografias e história no decorrer do final do século XIX e durante todo o século XX. As esquerdas em geral, o que inclui os liberais americanos, tenderam a ampliar e substituir a palavra “pobre” pela palavra “trabalhador”, e depois realizar uma revolução semântica ao manterem o nome “trabalhador” na jogada e ao mesmo tempo dizer que esse nome poderia servir de guarda chuvas para mulheres, pretos, gays etc.
Durante todo o século XX o nome “trabalhador”, em geral visto como pobre, saiu da condição subalterna e até mal vista para a condição de qualificativo salvador. Uma vez acossado pela polícia, o pobre passou a responder, na tentativa de se safar: “Sou trabalhador”. O burguês (nos termos marxistas a “classe média”) que havia sido o trabalhador perante o nobre, nunca conseguiu falar isso sem causar profunda má impressão. Ele copiou o modo do nobre e procurou deixar de trabalhar, fazendo sua empresa funcionar o mais independentemente possível dele, sonhando poder fazer parte de uma aristocracia que se orgulhava de não ter nada ligado ao mundo chamado de “profissional”. Diferentemente, o pobre usou do crescente qualificativo “trabalhador” e “bom profissional” para exigir livre trânsito e dignidade em uma sociedade hegemonizada não só pelo trabalho, mas também e principalmente pelo valor moral positivo adquirido pelo trabalho.
Diferentemente os títulos “mulher”, “negro” e “gay” não ganharam a chance do nome “trabalhador”. O século XX continuou a ser o século do trabalho tanto quanto havia sido o século XIX, ou até mais. Nunca foi o século da mulher, muito menos do negro ou do gay obviamente, ainda que tenha sido nesse século, principalmente após a II Guerra Mundial, que esses grupos minoritários começaram a poder colocar na mesa da história seu modus vivendi como um prato apresentável. Todavia, se a polícia acossa um pobre, longe dele ser bobo de dizer, ao invés de “sou trabalhador”, algo como “sou gay”, ou lembrar “sou mulher” ou “sou negro”. Se puder conseguir fazer isso no futuro não será por legislação somente positiva, como foi a que fez o nome “trabalhador” ganhar prestígio, mas por legislação negativa: leis contra descriminação da mulher, contra violência doméstica, contra homofobia e leis contra o racismo. O trabalhador foi empurrado pelo século passado, e com ele o pobre; já o negro, a mulher e o gay não tiveram tal sorte. A hegemonia do valor do trabalho na sociedade moderna, que se associou à revolução semântica provocada na e pela palavra “trabalhador”, não viu surgir nada parecido com ela mesma, por isso definiu uma época, os chamados tempos modernos.
Quando entendemos essa sociologia simples, entendemos então as leis que, no mundo liberal, procuram diminuir a distância social entre pobres e ricos através da educação pública, obrigatória e gratuita no âmbito do Ocidente. O pobre trabalhador, uma vez profissional, ganhou uma escola para ir, uma instituição então transformada, que aglutinou o Humanismo ao saber profissional em vários níveis, inclusive transformando não só o perfil da escola básica, mas principalmente o perfil da Universidade, uma instituição medieval criada para a atividade intelectual variada, mas jamais a atividade profissional.
Assim, a escola pública, obrigatória e gratuita passou a contar nas sociedades liberais modernas como um elemento central para a chamada aquisição de saberes de formação da “cidadania”, tendo esta noção incorporada a questão relativa ao trabalho. O cidadão passou a ser o cidadão-trabalhador. Em alguns lugares essa escola abarcou o resto da aristocracia, a burguesia rica e o trabalhador urbano relativamente não braçal. Em outros lugares uma tal diluição de diferenças classistas não foi possível de ser buscada segundo uma heterotopia[3], e houve a divisão entre escola particular e pública (em vários níveis verticais e horizontais), ou então divisões no interior do próprio sistema escolar público. As diferenças entre pobres e ricos, em termos de valor moral, ou diminuíram ou realmente se inverteram. Na condição de trabalhador o pobre começou a mostrar para o rico que nem só para ir para o Céu este teria que ver um camelo passar pelo buraco da agulha, mas também para ficar na terra e ser bem visto a tal proeza camelística talvez tivesse de ocorrer.
Mas a carga pejorativa com as minorias continuou. E isso até mesmo dentro do movimento dos trabalhadores organizados pela esquerda. Mulheres, negros e gays foram convidados para o campo do movimento dos trabalhadores, mas nem sempre foram acolhidos. Em alguns momentos as minorias tiveram de se opor às esquerdas, mostrando o quanto “a classe trabalhadora” que seria “universal” na conta do marxismo não estava agindo de modo universal ao fazer do trabalho um rótulo de petrificação, e não um campo estratégico capaz de abarcar todos os discriminados injustamente. Afinal, Marx colocou no limite de sua projeção uma sociedade sem estado e não só sem exploração do trabalho, mas de certo modo sem trabalho. Desse modo, ser trabalhador, em termos filosóficos, não deveria ter tanta importância assim, não deveria ser algo maior que ser mulher, negro e gay, distinções que, numa sociedade sem classes, sem trabalho humano espoliativo, poderiam muito bem continuar a existir.
Nesse contexto é que as esquerdas no mundo todo começaram a considerar as minorias e lutar por leis de proteção de identidade, por ações de fomento ao orgulho, por atividades de proteção de chances, tudo no sentido de tornar as minorias menos sofridas no contexto da sociedade moderna do trabalho. Essas ações todas não possuem cinquenta anos. Na verdade, em alguns lugares, menos de vinte anos. A política de cotas para negros e índios na universidade, que implica em uma política étnica, se insere nesse contexto. A cota étnica é instrumento antes de fomento de integração e quebra de preconceito do que ajuda individual para negros. Essa política nada tem a ver com a política de cota social para pobres, porque o pobre se integrou na condição positiva de “trabalhador”, e porque as sociedades liberais, desde o seu início – inclusive nos textos de Adam Smith e outros, muito antes dos textos dos socialistas – embutiram na própria estrutura estatal a função de criar e manter escolas estatais públicas e gratuitas para todos.
Essa escola poderia ter feito o papel de integradora entre o branco e o negro. Mas não fez. No Brasil, quando foi boa, não trouxe para seu interior o negro. Agora, uma vez ruim, o negro está nela, mas não consegue termina-la e, se consegue, não possui nível competitivo para ir para a boa universidade pública. Desse modo, inúmeros espaços profissionais continuam sendo lugares brancos no sentido físico e também e principalmente no sentido moral. Há advogados pobres e ricos, professores pobres e ricos, médicos pobres e ricos, apresentadores de TV pobres e ricos. Não existem nesses lugares profissionais os negros. A cota étnica é para que esse lugares profissionais tenham alguns negros, quebrando a visualidade branca do local, gerando um país que não estranhe o negro nesses lugares. Isso quebra a reprodução de preconceitos. O preconceito é mantido exatamente porque nunca se espera ver um médico negro. A população precisa se acostumar com um negro no Supremo Tribunal Federal sem exigir dele o comportamento dócil da senzala.
Aí, num futuro próximo, essa carruagem pode dispensar as cotas étnicas e continuar com a escola pública de boa qualidade como o elemento integrador par excelência. Pode-se então cumprir o desiderato do liberalismo.
Bem, se é assim, podemos compreender facilmente que a escola para o pobre não pode e não deve ser uma escola com portas abertas a partir de cotas sociais. O pobre não é minoria nem numérica e nem sociológica, ele se integrou ao campo do “trabalhador”. O melhor para uma sociedade liberal é que pobres e ricos possam frequentar a mesma escola pública, obrigatória e gratuita que os da minha geração puderam cursar, entrando então na universidade pública ou pagando boas universidades comunitárias. Quebrar esse princípio liberal por meio da cota social é uma temeridade. Ao mesmo tempo, não se quebra o princípio liberal de igualdade perante a lei ao se criar a cota étnica. Ela visa não a melhoria do negro individualmente ou lhe dar chances negadas a outro grupo, ela é uma ação emergencial de quebra de preconceitos de modo que a lei liberal de igualdade de oportunidades possa existir de modo melhor, e que a escola pública básica, se voltar a ser boa, não expulse o negro por preconceito, como ocorreu no passado, quando tal escola pública básica foi boa. A lei de cota étnica não é parte de uma política educacional, mas de uma política cultura e étnica.
Paulo Ghiraldelli, 57, filósofo.