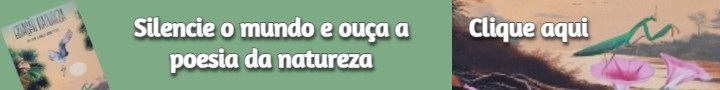NOS ABISMOS DE JÜNGER
Em: 29/12/2008, às 08H18

George Steiner
Tempestades de Aço, de Ernst Jünger, foi publicado em 1920 e trouxe fama imediata ao seu autor. Continua a ser a mais notável obra de escrita oriunda da Primeira Guerra Mundial. Passionate Prodigality, de Guy Chapman, é um gesto mais penetrante, inteiriço, de percepção humana; o alcance político de Le Feu, de Barbusse, é maior. Mas Ernst Jünger chegou mais perto do que qualquer outro escritor, mais até do que os poetas, de imprimir na língua o molde da guerra total. Em parte, é uma questão de técnica: as frases lapidares, tão distintas da sinuosa hesitação da prosa literária e filosófica alemã normal, as símiles violentas, o impulso da turbulência vívida e descontrolada, em detrimento da abstração. Em parte, provém da determinação de Jünger de tornar o ofício da escrita uma contraparte do ofício do combate. A guerra e o virtuosismo de Jünger no campo da guerra - sete vezes ferido, comandante de pelotão, Jünger recebeu a mais alta insígnia militar em setembro de 1918 - tornaram-se o núcleo visionário, a suprema pedra de toque da totalidade da sua obra. O inferno caótico de Somme e de Langemarck se torna mais do que uma lembrança causticante ou um exemplo de vida enlouquecida. A tempestade de fogo da artilharia pesada, a paisagem lunar de crateras e clarões, o frenesi sonâmbulo do combate corpo a corpo pareciam a Jünger condensar certas verdades e mistérios essenciais no homem. Depois de uma batalha como aquelas, seria impossível haver paz, apenas um armistício. Escrever ensaios, poemas ou romances como se a própria língua não tivesse passado pelos arames farpados e pelo ar envenenado parecia a Jünger algo semelhante a uma evasão romântica, uma tática burguesa numa época em que as amarras da civilização burguesa tinham sido fatalmente afrouxadas. Embora fosse uma parte inextricável da violência, a língua era, contudo, a última região segura de sobrevivência.
A idéia da língua como um absoluto, como o locus da realidade e da sobrevivência supremas, é uma das duas molas mestras da arte de Jünger. A outra é a pesquisa das ciências biológicas. Quase imediatamente após 1919, Jünger passou a dedicar-se ao estudo de botânica, ictiologia e entomologia. Sua familiaridade com crustáceos, lepidópteros e infinitas variedades de coleópteros supera em muito a de um simples amador. Há poucas páginas em seus diários e livros de viagem, e menos ainda em suas duas ficções alegóricas, em que não encontremos algum vislumbre preciso da vida vegetal. A vitória-régia floresce nos pântanos quentes, marcados pelas cicatrizes da batalha; a orquídea vermelha silvestre, "com a ponta desbotada das pétalas", rebrilha na penumbra do anoitecer; poucos dias depois de saber da morte do seu filho no front italiano, Jünger observa a florescente folhagem fibrosa e verde-amarelada do arbusto de aveleira perto de sua janela. Muitos valores estão associados a essa compulsão taxonômica. A exemplo de Gide, Jünger encara a zoologia e a botânica como uma escola do sentimento preciso; o olho do caçador de escaravelhos, do colecionador de orquidáceas, se torna tão penetrante e escrupuloso quanto o de um franco-atirador. Tendo imergido na devastadora destruição de homens, Jünger encontra um fiador da realidade na tenacidade e na profusão da vida orgânica. A perene erva rasteira Convallaria majalis, o lírio-do-vale, vai desabrochar, fria e luminosa, quando os nossos bunkers de concreto tiverem virado pó. Mas a morfologia das plantas, o estudo comparativo e a classificação da flora têm um significado ainda mais profundo. A exemplo de Goethe, Jünger supõe que a classificação das espécies da flora seja uma metáfora suprema da razão, da concórdia secreta entre a imagem da ordem na alma humana e as realidades das relações significativas na natureza. Ao reunir o grande Hortus Plantarum Mundi, o homem chega o mais perto possível do jardim perdido da Criação. Além disso, reconhecer plantas por seus esporofilos, como fez Linnaeus, é "ler" um alfabeto ou um código de vida mais antigo, mais universal. No rebento da videira, nos hieróglifos das asas da mariposa pintada, a lógica da criação está inscrita. O artista clássico é aquele capaz de tornar o seu discurso ou a sua forma individual similarmente sugestivos de uma unidade oculta, de um total desígnio de verdade.
Jünger completou o manuscrito de Nos Penhascos de Mármore no dia 12 de agosto de 1939. Um verão de resplendor incomum estava chegando ao fim. Na primavera de 1940, cerca de 35 mil exemplares de Auf den Marmorklippen estavam em circulação. Depois disso, as autoridades suspenderam posteriores impressões. Mas o livro não foi perseguido sistematicamente, muito menos transformado em polpa de papel ou queimado. Republicados após a "anistia" do autor em 1948 (Jünger recusou-se a comparecer diante de um tribunal alemão de "desnazificação"), o romance ultrapassou, 20 anos depois, a marca dos 100 mil exemplares vendidos.
De volta para casa após uma guerra longa, o narrador e o seu irmão Otho (os dois são irmãos de sangue e irmãos também em razão de uma fraternidade de espíritos eleitos) instalam-se num convento encravado num pico de rochedos de mármore. Abaixo deles, estende-se o Marina, um lago deslumbrante, margeado por uma terra de antigas cidades, santuários e vinhedos. Os dois sábios-guerreiros procuram consumir suas vidas em estudos de botânica e na contemplação. No cálice da genciana, com estrelas azuis, pode alojar-se a essência interior, o segredo rumo ao qual toda magia, transe, alquimia e cabala dirigem seus esforços, à primeira vista discrepantes, mas em última instância consorciados. Na rua Jardim Hermitage mora o elfo Erio, filho de um breve encontro erótico que o narrador viveu no tempo da guerra, e a sua avó, a bruxa terrena Lampusa. Uma ninhada de serpentes venenosas tropicais deslizam seus rolos dourados. O Marina é sombreado por florestas negras. Ali reina o monteiro-mor, um tirano astuto e cruel. Sua horda de celerados e assassinos são os mauritanos; seus ataques e sua propaganda estão minando os modos de vida ancestrais da vida cultivada nas terras do Marina. Entre o Marina e a Mauritânia se estende a Campanha, uma zona formada por estepes e pasto agreste. É habitada por povos arcaicos, hospitaleiros, e por Belovar, o seu patriarca feroz.
Nos Penhascos de Mármore relata a ruína dessa tríade instável. Os pastores da Campanha estão abandonando suas divindades pastoris; estranhas fraquezas envenenam as terras do Marina. Certo dia, numa incursão na floresta dos mauritanos, os irmãos deparam com o Corno do Carrasco: "Acima de sua porta escura havia um crânio pregado ao frontão. Ele exibia seus dentes sob uma luz mortiça e, com um sorriso zombeteiro, parecia convidar para dentro. Como a corrente que se prende à jóia, arrematava-o um delgado friso, no frontão, que parecia formar-se de aranhas marrons. Mas logo deduzimos que se tratava de mãos humanas fixadas à parede. Podíamos percebê-lo com tal clareza, que reconhecíamos a pequena cavilha que atravessava a palma de cada uma delas. Crânios iam-se branqueando nas árvores que cercavam o arroteamento. Ao mesmo tempo um persistente, pesado e doce cheiro de putrescência pairava no ar e nos fazia estremecer até a medula (...)."
Quando o Oberförster desencadeia o seu ataque, o narrador se associa a uma tropa de fazendeiros e camponeses para travar uma batalha desesperada. A refrega principal se dá entre os galgos nobres de Belovar e os mastins gigantes dos mauritanos. Perseguido por Chiffon Rouge, o cão de caça sanguinário predileto do monteiro-mor, o narrador foge descendo os rochedos rumo ao convento. Convocadas por Erio, as serpentes interpõem uma barreira de fogo e de peçonha entre os irmãos e a horda assassina. O reino de Marina sucumbe sob um apocalipse de fogo, sangue e alvenaria desmoronada. Otho e o narrador embarcam numa nau, misteriosamente pronta para eles, e escapam para uma praia distante. Lá, no baluarte montanhoso de Alta-Plana, os salões de Ansgar recebem sua chegada de modo festivo.
A idéia da língua como um absoluto, como o locus da realidade e da sobrevivência supremas, é uma das duas molas mestras da arte de Jünger. A outra é a pesquisa das ciências biológicas. Quase imediatamente após 1919, Jünger passou a dedicar-se ao estudo de botânica, ictiologia e entomologia. Sua familiaridade com crustáceos, lepidópteros e infinitas variedades de coleópteros supera em muito a de um simples amador. Há poucas páginas em seus diários e livros de viagem, e menos ainda em suas duas ficções alegóricas, em que não encontremos algum vislumbre preciso da vida vegetal. A vitória-régia floresce nos pântanos quentes, marcados pelas cicatrizes da batalha; a orquídea vermelha silvestre, "com a ponta desbotada das pétalas", rebrilha na penumbra do anoitecer; poucos dias depois de saber da morte do seu filho no front italiano, Jünger observa a florescente folhagem fibrosa e verde-amarelada do arbusto de aveleira perto de sua janela. Muitos valores estão associados a essa compulsão taxonômica. A exemplo de Gide, Jünger encara a zoologia e a botânica como uma escola do sentimento preciso; o olho do caçador de escaravelhos, do colecionador de orquidáceas, se torna tão penetrante e escrupuloso quanto o de um franco-atirador. Tendo imergido na devastadora destruição de homens, Jünger encontra um fiador da realidade na tenacidade e na profusão da vida orgânica. A perene erva rasteira Convallaria majalis, o lírio-do-vale, vai desabrochar, fria e luminosa, quando os nossos bunkers de concreto tiverem virado pó. Mas a morfologia das plantas, o estudo comparativo e a classificação da flora têm um significado ainda mais profundo. A exemplo de Goethe, Jünger supõe que a classificação das espécies da flora seja uma metáfora suprema da razão, da concórdia secreta entre a imagem da ordem na alma humana e as realidades das relações significativas na natureza. Ao reunir o grande Hortus Plantarum Mundi, o homem chega o mais perto possível do jardim perdido da Criação. Além disso, reconhecer plantas por seus esporofilos, como fez Linnaeus, é "ler" um alfabeto ou um código de vida mais antigo, mais universal. No rebento da videira, nos hieróglifos das asas da mariposa pintada, a lógica da criação está inscrita. O artista clássico é aquele capaz de tornar o seu discurso ou a sua forma individual similarmente sugestivos de uma unidade oculta, de um total desígnio de verdade.
Jünger completou o manuscrito de Nos Penhascos de Mármore no dia 12 de agosto de 1939. Um verão de resplendor incomum estava chegando ao fim. Na primavera de 1940, cerca de 35 mil exemplares de Auf den Marmorklippen estavam em circulação. Depois disso, as autoridades suspenderam posteriores impressões. Mas o livro não foi perseguido sistematicamente, muito menos transformado em polpa de papel ou queimado. Republicados após a "anistia" do autor em 1948 (Jünger recusou-se a comparecer diante de um tribunal alemão de "desnazificação"), o romance ultrapassou, 20 anos depois, a marca dos 100 mil exemplares vendidos.
De volta para casa após uma guerra longa, o narrador e o seu irmão Otho (os dois são irmãos de sangue e irmãos também em razão de uma fraternidade de espíritos eleitos) instalam-se num convento encravado num pico de rochedos de mármore. Abaixo deles, estende-se o Marina, um lago deslumbrante, margeado por uma terra de antigas cidades, santuários e vinhedos. Os dois sábios-guerreiros procuram consumir suas vidas em estudos de botânica e na contemplação. No cálice da genciana, com estrelas azuis, pode alojar-se a essência interior, o segredo rumo ao qual toda magia, transe, alquimia e cabala dirigem seus esforços, à primeira vista discrepantes, mas em última instância consorciados. Na rua Jardim Hermitage mora o elfo Erio, filho de um breve encontro erótico que o narrador viveu no tempo da guerra, e a sua avó, a bruxa terrena Lampusa. Uma ninhada de serpentes venenosas tropicais deslizam seus rolos dourados. O Marina é sombreado por florestas negras. Ali reina o monteiro-mor, um tirano astuto e cruel. Sua horda de celerados e assassinos são os mauritanos; seus ataques e sua propaganda estão minando os modos de vida ancestrais da vida cultivada nas terras do Marina. Entre o Marina e a Mauritânia se estende a Campanha, uma zona formada por estepes e pasto agreste. É habitada por povos arcaicos, hospitaleiros, e por Belovar, o seu patriarca feroz.
Nos Penhascos de Mármore relata a ruína dessa tríade instável. Os pastores da Campanha estão abandonando suas divindades pastoris; estranhas fraquezas envenenam as terras do Marina. Certo dia, numa incursão na floresta dos mauritanos, os irmãos deparam com o Corno do Carrasco: "Acima de sua porta escura havia um crânio pregado ao frontão. Ele exibia seus dentes sob uma luz mortiça e, com um sorriso zombeteiro, parecia convidar para dentro. Como a corrente que se prende à jóia, arrematava-o um delgado friso, no frontão, que parecia formar-se de aranhas marrons. Mas logo deduzimos que se tratava de mãos humanas fixadas à parede. Podíamos percebê-lo com tal clareza, que reconhecíamos a pequena cavilha que atravessava a palma de cada uma delas. Crânios iam-se branqueando nas árvores que cercavam o arroteamento. Ao mesmo tempo um persistente, pesado e doce cheiro de putrescência pairava no ar e nos fazia estremecer até a medula (...)."
Quando o Oberförster desencadeia o seu ataque, o narrador se associa a uma tropa de fazendeiros e camponeses para travar uma batalha desesperada. A refrega principal se dá entre os galgos nobres de Belovar e os mastins gigantes dos mauritanos. Perseguido por Chiffon Rouge, o cão de caça sanguinário predileto do monteiro-mor, o narrador foge descendo os rochedos rumo ao convento. Convocadas por Erio, as serpentes interpõem uma barreira de fogo e de peçonha entre os irmãos e a horda assassina. O reino de Marina sucumbe sob um apocalipse de fogo, sangue e alvenaria desmoronada. Otho e o narrador embarcam numa nau, misteriosamente pronta para eles, e escapam para uma praia distante. Lá, no baluarte montanhoso de Alta-Plana, os salões de Ansgar recebem sua chegada de modo festivo.