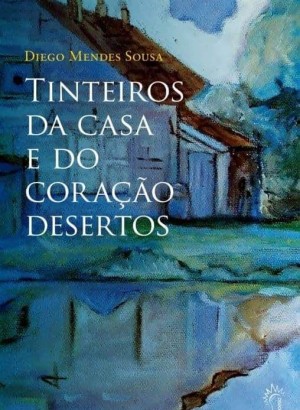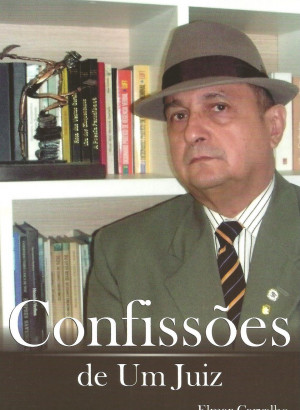Jeffrey Eugenides
 Por Sérgio Rodrigues Em: 10/09/2011, às 08H18
Por Sérgio Rodrigues Em: 10/09/2011, às 08H18
[Sérgio Rodrigues]
Na manhã em que a última filha dos Lisbon decidiu-se também pelo suicídio – foi Mary dessa vez, e soníferos, como Thereza –, os dois paramédicos chegaram à casa sabendo exatamente onde ficavam a gaveta das facas, o forno, e a viga no porão à qual era possível atar uma corda.
Não se pode dizer que o início da novela “Virgens suicidas”, de Jeffrey Eugenides (na ótima tradução de Marina Colasanti), deva sua estranha beleza ao fato de abrir com esse prosaico “na manhã em que…”, que chega a lembrar o clichê “era uma vez” dos contos de fadas. No entanto, ao escorar tão firmemente no tempo a história, o autor lhe confere densidade e verossimilhança.
Um crítico mais intolerante com as artimanhas dos narradores poderia argumentar justamente o contrário: que estamos diante de um ponto fraco do texto, uma concessão à banalidade e ao lugar-comum. Foi o que fez Paul Valéry em sua famosa diatribe contra o romance, ao se dizer incapaz de escrever uma frase tão prosaica quanto “A marquesa saiu às cinco horas”.
Bobagem. A tal frase só será banal se a marquesa se mostrar uma personagem bidimensional ou desinteressante – o resto é preconceito contra a arte narrativa, que deve, o mais depressa possível, arrancar o leitor de seu próprio tempo, aquele em que ele abre o livro, e jogá-lo dentro do tempo da história: “Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento…”, “Quando Gregor Samsa despertou, certa manhã…”, “Durante muito tempo, costumava deitar-me cedo”, “Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos…”. Duvido que García Márquez, Franz Kafka, Marcel Proust e Charles Dickens fizessem alguma objeção à escapadela da marquesa.