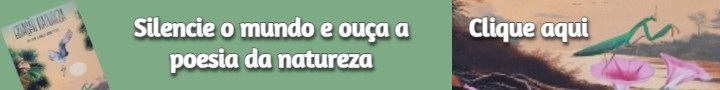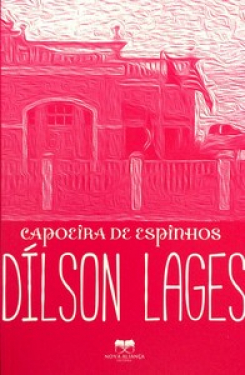Ensaio crítico sobre a obra poética de Diego Mendes Sousa - Por João Carlos de Carvalho
 Por Diego Mendes Sousa Em: 28/12/2020, às 23H33
Por Diego Mendes Sousa Em: 28/12/2020, às 23H33

O LIRISMO RADICAL: CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA DA NOSTALGIA DO NADA NA POESIA DE DIEGO MENDES SOUSA
Autor: Prof. Dr. João Carlos de Carvalho
Universidade Federal do Acre
Cruzeiro do Sul-AC
RESUMO: O lirismo como uma encenação de um drama que busca, no re(des)fazer da matéria-prima poética, um diálogo com as principais marcas de transição do homem ao humano desde a origem. Ao reconhecer essa trajetória, percebemos que se deu à poesia lírica um poder de reminiscência extraordinário através dos séculos. Nos estatutos propostos pelo contextos moderno e pós-moderno, a fragmentação de nosso tempo impôs às jovens vozes literárias mais e mais desafios de criação que jogam muitas vezes com o perigo abissal da dinâmica do não significado em uma crise de representação que se torna, no final das contas, uma própria meta-matéria. A poesia de Diego Mendes Sousa, em um impacto de qualidade nos seus cinco livros publicados no ano de 2019, será objeto de análise como exemplo de uma missão poética que se aproxima do imponderável paradoxal da própria necessidade de registro.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia lírica. Contemporaneidade. Diego Mendes Sousa.
ABSTRACT: Lyricism as a staging of a drama that seeks, in the re (de) making of poetic raw material, a dialogue with the main marks of transition from man to human since its origin. Recognizing this trajectory, we realize that lyrical poetry has been given an extraordinary reminiscent power through the centuries. In the statutes proposed by the modern and postmodern contexts, the fragmentation of our time imposed on young literary voices more and more creative challenges that often play with the abyssal danger of the dynamics of non-meaning in a crisis of representation that becomes, in the after all, a meta-matter itself. Diego Mendes Sousa's poetry, in a quality impact in his five books published in 2019, will be the object of analysis as an example of a poetic mission that approaches the imponderable paradox of the very need for registration.
KEYWORDS: Lyric poetry. Contemporaneity. Diego Mendes Sousa.
A poesia lírica é o gênero primário porque se torna a maneira mais hábil de resolver o controverso do humano em uma situação limite entre o eu e o mundo, na própria origem do registro através de algum momento em que o sujeito se vê acuado diante da orbe hostil (LINS, 1990, p. 88). Ou seja, se há uma contradição básica entre o ser e o parecer, a poesia consegue, por meio de uma imagem, por exemplo, conciliar os extremos como nenhuma outra forma discursiva foi capaz de alcançar, ao fazer o eu perdurar e retraduzir, ao mesmo tempo, qualquer impasse no plano de apoio da própria condição lírica; no caso, impossível, muitas vezes, para outros gêneros que não podem “abusar” da elevação da linguagem, sem perder o propósito original. Octavio Paz já nos falava da luta dos contrários que se resolvia com o triunfo da imagem (1976, p. 37-50). A vida, nesse sentido, é retrabalhada em um nível de enfrentamento singular na supremacia do eu (mas não um eu qualquer), porque impõe um ritmo que é a própria compreensão que se tem de mundo a partir da relação perversa que sobrevive nas ranhuras do ser e parecer, casualmente ao se tornar um Eu lírico e particularizar ainda mais sua percepção privilegiada. Poesia é abertura para o ser, mas necessita do artifício da forma, da conclusão inesperada, muitas vezes inconclusa. Poderemos ter uma prosa-poética, ou um teatro-poético, mas o único espaço que pode ansiar uma pureza de risco é o lirismo, apesar de impossível. Diria mesmo que qualquer ansiedade projetada como resposta ao desespero, impulso básico do despertar lírico e da vontade de existir, na verdade, sente a necessidade de uma (in)conclusão sígnica por meio do símbolo poético, mesmo que o fenômeno não passe de pura abstração. Esta expressão de linguagem que se elaborou ao longo de milhares de anos, no limite entre o oral e o escrito, em oposição ao prosaico (não necessariamente à prosa, que só muito depois se articulou literariamente), encontrou seu nicho na consciência reflexa do homem isolado em si mesmo, compreendendo que lá fora do espaço do eu existia uma dor a ser conhecida. A poesia lírica é mais um estado do que propriamente uma realização, o que torna os poemas respostas provisórias diante do apelo ao inefável: “(...) ela tem sua existência literária decidida nesse trânsito do abstrato ao concreto, do mundo para o poema, através do poeta, no processo que a conduz do estado de potência ao de objeto.” (LYRA, 1992, p. 7). A palavra, nesse caso, se sente obrigada a resvalar o original, ou o perdido, ou a se perder. Há uma ânsia de reconhecimento que não permite que o sujeito possa ficar parado diante do desafio da própria criação. Inventar liricamente, nesse caso, é tentar sacudir a poeira de séculos, quase sempre, se se objetiva o intangível, ou o máximo do desafio metafísico. É desejar, no impróprio do reconhecimento, o desconcerto por meio da estabilização provisória da forma. O poema lírico é uma conquista e uma perda de origem, um fort-da contínuo do irrefreável, que é a própria elevação da linguagem em um nível de propósitos desconhecidos, principalmente em tempos pós-pós[1]. É também o acerto de contas com as pistas quase apagadas pelo próprio domínio do racional. A poesia, no sentido estrito que nos leva a investigar essa palavra, só pode ser alçada diante de certas condições conciliatórias. Por exemplo, ansiar a pureza e sabê-la perdida tão logo o poema comece a tomar natureza de uso conduz à perseguição da imagem. Qualquer situação fora disso levará ao antilirismo; porém, o que se tornou comum em diversos poetas modernistas e pós-modernistas, como o chileno Nicanor Parra ou o brasileiro João Cabral de Melo Neto não se deduz assim tão facilmente por meio de qualquer rótulo, pois nenhum dos dois foge ao apelo lírico inicial, onde o Eu se incendeia de signos grávidos de eleição e se bifurca nos objetos sem necessariamente cair nas malhas da ficção narrativa. O prosaico ou a elevação do prosaico se regulamenta na maneira como o Eu lírico ambiciona suas armadilhas verbais. O mundo é assimilado e desumanizado pela força do signo poético quando este apela para a pura imagem e tenta se afogar muitas vezes no próprio lago lírico-narcísico. Essa neutralização do estado criador toca o impossível, por isso a poesia só sobrevive quanto mais se contamina na disputa por um espaço de atuação entre o lirismo e o antilirismo. A objetivação pode ser uma saída, ou uma entrada, ou uma perda, ou um ganho, mas nada que não seja desnecessário na busca pelo ideal. O lirismo puro visaria a um estado de estabilização nirvânica, o que seria o fim da própria linguagem, por isso o poeta pode apelar para uma vulgaridade, ou uma curva sinuosa, que o desmembre de obrigações elevadas, e retornar ao conciliatório e ter mais uma vez a promessa do próximo porto imagístico, convergente. Agir, ou tomar a decisão do corte, ou a escolha seletiva da palavra, é se colocar, portanto, num ponto privilegiado de observação para o poeta. Esse é o instrumento: na verdade, um pobre ser que sabe a batalha a perder ao fim do poema, mesmo retornando a ele incansavelmente, porque haverá um estado de insatisfação necessário para o perene impulso criador ligado à origem, ou à ânsia de pureza, se o lirismo pulsa à flor da pele em seu esgotamento metafísico. Seu produto, tão logo concluído, não será mais dele, e já não pertence à origem ou mesmo à pureza ansiada.
O conceito de lirismo, inicialmente, implica uma relação radical com a palavra. A consciência moderna, de qualquer maneira, se configurou a partir dessa oportunidade de sustentar a ideia na linguagem, seja ela ou não conciliadora dos motivadores iniciais, mas que se permita funcionar como tal, o que elevou as condições de fabricação e espanto, fugindo de certas monotonias formais. O contexto onde o poema foi gerado se esfumaça ao projetar um outro contexto, mas não é absolutamente uma outra coisa. É a capacidade de articulação de um outro nível de compreensão da realidade, retrabalhando os pontos divergentes motivacionais. Não há duas realidades; há uma realidade que traduz a vida em técnica, senão o lirismo entra em colisão com os próprios impulsos motivadores originais e se desagregaria numa esfera esquizofrênica. Portanto, diante da angústia, qualquer forma especular de suspeição de si no mundo configura-se à provável única resposta por meio do efeito estético, aliás, como conciliador e “falhador” ao mesmo tempo na inserção ao mundo. Mas nem toda angústia vira um poema, isso sabemos, e é esse o motivador da conciliação, pois a possibilidade do fracasso da resposta, por outro lado, articula a relação entre o próprio artificialismo, como um dos elementos da técnica, e a existência, de onde virá o caldo contraditório em potência de uma outra linguagem a se articular. O conceito de poema moderno é o de um semiproduto, ou um meio termo, ou o inacabado que optou por silenciar antes de entrar em tensão com os próprios mecanismos de fabricação; por isso, na maioria das vezes, no apelo pós-moderno, e mesmo depois no pós-pós, o poema pode ficar gritantemente pela metade, pois já não tem a pretensão ao perene do modernismo, o que angustiava muito o célebre poeta Carlos Drummond de Andrade: “E como ficou chato ser moderno. Agora serei eterno” (1973, p. 209). Vida e arte se encontram onde seus próprios contextos se abrem um para o outro e tentam se representar enquanto monumento da ruína[2], ou da linguagem que traduza o seu impossível.
A ruptura mallarmaica[3] lembremos, no final do século XIX, foi uma das formas radicais de enfrentamento dos limites do significado do uso das palavras na literatura moderna, com “suas imagens flutuantes, sem âncoras nem explicações, enriqueceu os recursos da poesia (...), absolveu os poetas posteriores da dicotomia desgastada entre pensamento e coisa.” (HAMBURGUER, 2007, p. 48). A ideia de uma poesia pura, porém, jamais se efetivou ao longo do século XX, principalmente porque a pureza não é uma ideia conveniente a um período contaminado de tantos apelos históricos, heranças trágicas de experiências vividas e recentes, como holocaustos e sacrifícios, devastações humanas e ambientais, ameaças de extermínio atômico, suscitado inapelavelmente por um EU que não se subordina à realidade, mas a enfrenta para transformá-la nas condições que a linguagem altamente elaborada venha a permitir, o que causaria sempre uma estranheza extrema, a ponto de o famoso filósofo Theodor Adorno dizer que, depois de Auschwitz, escrever um poema seria um ato de barbárie (GAGNEBIN, 2003, p. 98). Nesse caso, os poetas seriam tão condenados como as vítimas do nazismo, porque o lirismo não se encaixa nas prerrogativas de um mundo incendiado por referências sobrepostas por meio de enfrentamentos prosaicos. Mas a poesia pode ser também uma maneira de compreensão histórica, com ônus e bônus na realidade chamuscada, só que rememora uma origem que jamais poderá ser se não apelar para o antilírico, muitas vezes. Apesar de ser a única resposta viável diante da angústia (toda preocupação pessoal se tornaria um problema estético-lírico, portanto), ela não é terapêutica (a palavra é a solução, não a compreensão dos sentimentos contraditórios). Ela não resolve os problemas do mundo ou mesmo do indivíduo, e não expressará apenas uma situação que envelheceria com o tempo (muito menos a prosa o fará também). O lirismo, no entanto, apela para o alegórico a fim de enfrentar o fiasco de sobrevivência do simbólico. Ao conciliar extremos, o estado lírico alerta para o enfrentamento em outro nível, pois é o resultado de um desafio sempre original, senão, não poderia ser lírico: conciliando e divergindo nos próprios resultados, em relação ao próprio estado lírico, ou em relação à própria vida. A poesia cabe onde não se encaixaria originalmente. Sua busca é humana, apesar de se desumanizar por meio da polissemia da palavra, no próprio mundo moderno, desde os simbolistas no século XIX. Na verdade, por outro lado, não há poesia desumana, mas seu percurso nos últimos cem anos pode vir a sugerir isso em momentos extremos. Houve, sem dúvida, cada vez mais técnica e enfrentamento à medida que o moderno se fragmentou. O signo poético é um articulador de projeções falidas num plano, para se realizar em um outro plano pelo esforço do artífice. No mundo moderno, e depois pós-moderno (praticamente o mesmo grau de temperatura experimental)[4], isso se radicaliza e exige dos jovens poetas malabarismos de encaixe entre memória e sua dissolução, entre o que se viveu e o seu ideal nostálgico absoluto.
Poderíamos pensar que todo lirismo se tornaria uma aventura de linguagem, no momento que Adorno profere sua terrível sentença. Na verdade, Adorno desconfiava de qualquer manifestação cultural no mundo capitalista. Adorno, de certa maneira, era antistalinista, mas mantinha suas prerrogativas de banimento, nesse caso. No stalinismo, qualquer verso poderia ser interpretado ao bel prazer do regime e, fatalmente, renderia mais um fuzilamento de algum poeta por algum interesse fortuito que conviesse ao regime totalitário. No fundo, como na música, Adorno ansiava um ouvido privilegiado para escutar o lirismo escondido das vítimas do nazismo? Talvez por isso não houvesse mais espaço para o lírico, abafado pelos gritos e lamentos daqueles que não puderam pôr suas vocações em prática? O ponto sensível, no meu modo de ver, está na incapacidade de projeção a partir da própria ancoragem na bruta realidade intraduzível, a não ser que o fizéssemos através de onomatopeias ininteligíveis até esgotar todos os recursos verbais. A terrível realidade e a ânsia de pureza se conciliariam aí? A partir da sentença adorniana, qualquer cotidiano seria indigno do espectro poético, mesmo assim, um esforço de memória sempre busca uma maneira de conciliação, mas a imagem, ou a força, que ela evocaria na sua relação com a origem, poderia estar comprometida, e, na verdade, ela já estava desgastada bem antes de Auschwitz. E também bem antes de Mallarmé, ou mesmo dos neoclássicos tardios, ansiosos por suas arcádias e parnasos. Toda ânsia de pureza no campo poético, hoje, pode ser encarada como uma pretensão ridícula, mas não há dúvida que a abstração testada por diversos nomes no século XX, mesmo na dissolução do desbunde pós-pós, deu ao lirismo uma condição ímpar de tangenciar e penetrar, ao mesmo tempo, as múltiplas realidades sugeridas no desconcerto da criação, por meio ainda de apelos do vezo hábil em combate com um mundo incendiado por guerras vis, reengajando o poeta em causas sociais, de maneira mais contundente do que um romancista poderia fazer, muitas vezes. Os vestígios metafísicos emblematizados pelo lirismo, por meio de um novo ativismo retórico, fizeram o poeta, a partir do século XX, um rebuscador de utopias perdidas ou fragilizadas em sua memória partilhada no fogo das ideias que naturalmente se dissolvem nas provocações por meio de uma linguagem altamente elaborada. Sua memória, apesar do apelo egoico, é, no fundo, uma memória de fragmentos de outras memórias ansiadas e utópicas, muito antes de qualquer batalha pensada no próprio campo da linguagem. Ao reler a sentença, muitas e muitas vezes, de Adorno, um famoso poeta, polêmico como quase todo grande artista, se dizia exultado e ria “a bandeiras despregadas” diante do apelo inexpugnável do “jorro” lírico (TOLENTINO, 2002, p. 29). A fatalidade do poeta não está em combater as injustiças do mundo com precárias ferramentas, muito menos incisivas nesse sentido do que o prosaico mesmo poderia permitir. A prosa usa e abusa com requintes de não perder a sua condição “literária” no mundo contemporâneo, aspecto que o lírico não pode se dar ao luxo. Os vestígios metafísicos, por outro lado, podem ajudar a gestar grandes interrogações, por meio do lirismo, ainda, e isso dá ao poeta a oportunidade de gestar suas “infidelidades”. A fatalidade do poeta estaria na sua incapacidade de não abrir mão da beleza mesmo diante de um ouvido alerta às suas necessidades mundanas, por exemplo. Ou seja, o mundo, a sua volta, que se recusa a se levar pelo ritmo mágico inicial, justapõe as realidades em um mesmo nível como um desafio derradeiro ao poeta. Eis a grande utopia do lírico: o de ultrapassar o próprio estímulo original por meio da descontextualização. Quando Platão expulsa o poeta de sua república, ele o expulsa baseado em um suposto conceito de falta de equilíbrio entre as realidades apontadas. Mas Platão, ao expulsar o poeta, estava estabelecendo um novo paradigma para a literatura, da qual ele também faria parte, no entanto, pois rompe fronteiras discursivas e atinge gargalos dos quais até hoje impedem que o poeta se declare um profissional das letras, o que não é todo mal.
A inquietude de Nietzsche diante do apelo dionisíaco, que precisava do apolíneo para o equilíbrio e a manifestação da beleza, o fez colocar Sócrates e Eurípedes no mesmo pacote para uma demonstração do esvaziamento do trágico, conceito ao qual ele guardava as melhores recordações do verdadeiro homem poético (NIETZSCHE, 2007, p.102-3). Não há dúvida que Nietzsche e Platão se equiparam em buscar, em O nascimento da tragédia, uma utopia para a melhor performance do poeta. O mundo moderno e pós-moderno elege Nietzsche o seu guardião, pois ele, na encruzilhada que ousou ferir com suas marteladas aforísticas, redescobre os pontos sensíveis que os artistas e pensadores do século XX se esmerariam em tentar refabricar no extremo da angústia de um tempo em que cabe tudo e, ao mesmo tempo, também nos prepara para sermos expulsos por qualquer inconveniência idiossincrática inesperada de nossas utopias. A poesia ainda se torna uma ferramenta para que possamos sobreviver entre a provocação e a ansiedade de tempos superpovoados de urgências famélicas de signos apaziguadores. Acredito que os desafios nietzschianos iam nessa direção e mais do que nunca a poesia sofre o resguardo de não encontrar o desafio para o seu risco de pureza da sua utopia simbolista-suicida do antidiscurso mallarmaico. Sem a contaminação inevitável, o impossível se torna o risco de se calar perpetuamente, através de uma projeção nirvânica que levará ao desencantamento com a humanidade na sua relação com o nada.
Com os conceitos de divergência e convergência, deparamo-nos com os impasses produzidos por eras de expectativa de uma poesia exilada, ou de um redimensionamento dado pela potência da palavra e seu natural esvaziamento com a ruptura mallarmaica. O exílio do poeta, diante da expulsão do paraíso “das coisas públicas”, torna inevitável a sua inserção em um diálogo entre a morte do corpo físico e a morte da linguagem. As duas mortes se embrenham numa controvérsia de novos exílios involuntários, onde a divergência produzida pela expectativa do registro, e do registro propriamente, gera o impasse necessário para a articulação do não pensado. O ritmo que advier daí é a secreção que escorre da ferida incurável, sim, do aspecto grotesco que deverá se remexer até encontrar a saída estético-apolíneo, a princípio, mas que não sobrevive sem a pré-divergência dionisíaca. As eras acumuladas com as quais o poeta, que aceita o desafio da criação como atividade quase missionária, torna legítimo o gesto do risco e do reconhecimento. A palavra escrita não tem volta depois do registro, a não ser que seja para remover as crostas que o apolíneo não tolera na sua ânsia emancipatória. Cortar e desmembrar o poema, nesse caso, em tempos pós-pós, produz uma lírica radical de sobrevivência e, ao mesmo tempo, de tolerância ao conflito inercial e infinito que a segrega e estimula. O poeta volta ao seu lugar e faz da divergência, entre o produzido e o não produzido, entre o estático e o movimento, a ferramenta metafísica de apoio para a conciliação, ou a convergência, dos passos não dados, do essencial que só pode ser capturado por um ritmo intangível. Mas nunca haverá consolo, na verdade, fora da ânsia metafísica, que sobreviva em tempos modernos, e principalmente pós-modernos.
Ao me deparar com os cinco livros de poemas publicados em 2019 por Diego Mendes Sousa (1989-), jovem poeta piauiense, espantei-me de perceber que muitas das minhas indagações, ao longo dos anos, sobre o lirismo, encontravam respostas dispersas em sua lavra sedutora. Diante dos seus próprios relatos, e de admiradores da sua obra, fica patente a perseguição do inefável, ao mesmo tempo que luta contra realidades que esmagam o seu cotidiano e alertam para um risco do nostálgico como um desafio a se reconstruir em tempos tão fragmentários e deslúcidos. A imagem ali sobrevive como um apelo à origem, mas qual origem? A resposta estará em um caminho que trilha a recuperação de uma paisagem interior que se mistura à paisagem de sua terra natal, à configuração de sua musa (real/irreal?) que ganha diferentes contornos, e nesse meio termo traduz uma ânsia de pureza que contamina, paradoxalmente, versos de vida pulsante e de declínio, tangenciando uma loucura que faz, do registro, um ritmo ao bel prazer de uma potência desconhecida rumo ao nada. Diria que todo o esforço de atingir um nível poético de risco e reconhecimento se encontra no limite de fronteiras das linguagens que Diego Mendes Sousa rearticula, livro após livro, sem estabelecer uma diretriz formal que o encaixe neste ou naquele preceito estilístico mais determinante. Como muitos outros poetas contemporâneos que ele, com certeza, lê e aprecia, Diego nos convida ao risco da própria Obra, como se o tempo escoasse no congelamento da cronologia poética, mesmo antes que o estilo atingisse o seu auge, através de uma poesia que quer se manter conciliadora com a forma presente e nostálgica, concomitantemente. A leitura, aos interessados pela publicação dos seus cinco volumes em 2019, dará uma dimensão do esforço de um poeta que assume a sua condição de itinerância como vocação, traduzindo a ansiedade de representação do inefável quando a palavra se debruça ao abismo, com o risco de desaparecer. O pós-moderno assume o risco como inevitável resolução provisória do impasse não mais apenas entre a palavra e a coisa, mas entre a palavra e a outra palavra, que deve socorrer a anterior, despudoradamente. Nessa poesia, não haverá mais consolo a não ser o de ir atrás da beleza perdida metafisicamente em um mundo onde a vulgaridade – ou as patrulhas ideológicas, ou as variações dos preços das commodities, ou os índices das bolsas de valores – comanda o enlace encadeador de urgências na escala preferencial da humanidade em sua agonia diante de leituras breves e passageiras em seus smartphones.
Os poetas modernistas no Brasil, até meados do século XX, estabeleciam como obrigação o amadurecimento para o diálogo visceral com a tradição. Essa herança “maldita”[5] foi deixada para muitos jovens poetas que ficavam no “meio do caminho”. A ruptura apocalíptica pós-pós, creio, tem sido cada vez mais e mais abissal nas últimas duas décadas no limiar do século XXI, pois o abandono editorial da poesia contemporânea leva o estro lírico a um posicionamento ainda mais marginal e obriga seus jovens talentos a publicações que visam mais a um nicho restrito de leitores poetas do que propriamente a uma divulgação da obra. Inicialmente, podemos achar isso ruim, mas, por outro lado, podemos também perceber que a poesia assume a sua própria maldição de resistência da linguagem que encapsula o ser e o faz despertar em níveis de linguagem cada vez mais exigentes. Ao contrário de uma letra de canção, que precisa cativar de imediato um público, a poesia escrita, de teor altamente lírico, ao revelar e escavar as tortuosas vias metafísicas para se aproximar do ser, intenta produzir um choque radical entre a banalidade do cotidiano e a linguagem impotente para reproduzi-la. Daí, o imperioso das pistas falsas entre o rasteiro e o sublime. É nessa frincha que se desenham grandes prodígios da linguagem altamente articulada em tempos inglórios. Não gratuitamente, Paulo Leminski, nos anos 80 do século passado, diante do esgotamento que o trabalho poético produz, sem nada dar em troca materialmente falando, dizia suspeitar que o poeta era um erro de programação genética (1987, p.284). Na verdade, o vate paranaense não falava do poeta moderno, que encontrava razões para enfrentar o tradicional, pois, na verdade, ele estava antecipando o trabalho de uma jovem geração, mais marginal do que a dele, que se depararia com condições ainda demasiadamente sofríveis de divulgação do que aquela já difundida por meio dos precários mimeógrafos de sua época. E que, mesmo assim, teria de encontrar alguma razão para elevar os contatos entre as nervuras do céu e do inferno da língua portuguesa-brasileira, dentro da prisão social que qualquer um vive, claro, limitado por convenções do próprio idioma, a retomar o vezo lábil aos próximos limites fronteiriços que se provocariam naturalmente. A questão que se coloca é: qual a razão para se escrever poesia nestes tempos tão autofágicos, ou mesmo em quaisquer tempos que tenham características tão próximas, mas especificamente em tempos que o desafio não é um adversário reconhecível, mas apenas a própria trama que a linguagem oferece ao poeta como sentido? Por isso, Paulo Leminski ainda diria que o poema não tem significado, pois ele é o seu próprio significado (1987, p. 285). A poesia pós-pós é o desencanto com o seu próprio encanto, ou a aproximação do imponderável como gesto possível. Leminski já vivenciava os impasses entre o ritmo e a mensagem quando a desclassificação profissional já era uma realidade assumida. Um poeta como Manoel de Barros fazia do abstrato a maneira de reinventar a língua numa dicção tão particular que qualquer um poderia fingir que o entendia, já que ele saía do nicho tradicional de divulgação entre os pares. Era já o desencanto do encanto da palavra. Os segredos de fábrica não eram mais segredos, no entanto, poderíamos partilhar as mesmas sensações de ruptura de qualquer momento de ruptura em que a poesia tenha atuado, seja na Antiguidade, seja na Idade Média com a invenção do soneto, seja a torre de marfim dos modernos (parnasianos e simbolistas), enfim, todo lastro em que a poesia nos remeteu foi sempre um limite de diálogo com o seu próprio tempo provocador. A poesia só poderia ser se promovesse também um novo enlace entre quaisquer parâmetros, como a velha dicotomia do ser e do parecer mais uma vez. Uma ensaísta famosa, ao estudar Mallarmé, diria que o poema vem lembrar que tudo é linguagem e que a linguagem engana (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 32). A poesia (e eu falo, inicialmente, da poesia escrita) pode não nos dar nada materialmente factível, mas pode produzir um “consolo metafísico” do qual Nietzsche, ao longo da sua prodigiosa obra nunca deixou de perseguir por meio da elevação do poder da sua própria linguagem poético-filosófica. Nossa “herança maldita”, portanto, tem a ver ainda com as “ficções retóricas” de que nos falava o historiador Michel de Certeau. Com o pós-naturalismo, através de escritores e poetas entregues “às suas ereções solitárias estéticas”, a literatura representava sua própria morte e zombava dela (CERTEAU, 2014, p. 223). O texto poético será, ad infinitum, a partir da ruptura mallarmaica, portanto, uma tentativa de captura de falências previstas. O pós-pós só agrava a nossa perseguição ao inefável. Agarrar-nos a um ou outro valor factual apenas exige novos sacrifícios de fabricação. Não haverá estrada sem o gosto amargo do próximo fragmento a ser retraduzido, ainda, numa esfera de possível abatimento e abandono da própria palavra poética e sua angústia dispersa diante do nada.
Vejamos como em alguns exemplos, retirados da obra de Diego Mendes Sousa publicada em 2019, poderemos procurar pistas da missão do poeta se redimensionando do apelo da pureza perdida, em tempos pós-pós, por meio de estilhaços produzidos entre o referente e sua representação, quando ambos se projetam como um enlace do impossível, pois as palavras, agora, são colocadas para o engodo do gesto de reconquista. Em “Ensinamentos sobre a vida”, o Eu lírico convoca as naturezas desumanas como provocação do imponderável: “E desde que ainda/ vivamos da luz e/ do olhar submerso/ em Deus –/ A neblina, / na noite escura/ da nossa íntima/ e triste solidão, / é aterradora/ de sombras” (2019a, p. 25). Podemos notar que não há, na verdade, nada em que se agarrar fora o gesto de risco poético, como derradeiro recurso, na expressão irregular dos próprios versos que buscam uma regularidade perceptiva na própria dispersão, reafirmando a impotência pulsional do entrelaçar entre vida e vagueza. Mais adiante: “E o coração, /essa miséria/angular/nas cordas/do obscuro”. E a seguir: “– grades de tempos/e séculos/que suportam/a rota elegante/da metafísica –” (2019a, p. 26). Em nada existe a segurança que antevê a palavra “ensinamento” que dá título ao poema, pois apenas temos um pretexto para a elegância de postura diante da dissolução cronológica e da ausência de respostas. E segue, ainda: “é o céu que se abisma/ao homem e ao seu destino, /ao vivido em seu encanto e/ao morto em seu desespero:” (2019a, p. 26). E termina, de maneira paradoxal em relação ao que foi abstratamente discorrido até esse momento: “Sonolência apinhada de sonhos, /sempre, a vida, ensina.” (2019a, p. 26). O que a vida ensina a partir das sobrenaturezas apresentadas pelo Eu lírico? Provavelmente que o caminho é de recolhimento das sobras sígnicas e seus “ressignificados”, pois até o “morto” se desespera. Mas qual desespero? Claro, o da representação da própria inconclusão da forma. Há uma sobrecarga sígnica que se autossabota em nome da salvaguarda do consolo metafísico, nesse e em outros poemas de sua lavra, que apenas repetem o gesto inercial, no entanto, incapazes de superar os impasses que o universo contemporâneo quer e exige de pragmático para a ação dos sentimentos em contradição, e que o poeta teima em driblar e propor saída pelo próprio enfeitiçamento que o ritmo faz escorrer através de um antipragmatismo pontual e imagístico.
Em “Ensinamentos sobre o tempo”, confirmamos o itinerário vagamundo discursivo-didático do Eu lírico disperso em sua própria magia de (des)encantador das palavras, em um momento de construção/descontração/desconstrução: “Apreendo, sim, /seguro talvez do infinito, / o Belo –/ a eternidade da música/no Tempo”. E mais adiante: “Agora vejo, /somos todos/aprendizes/da infância, /que está / perdida / nas reminiscências / sofridas/da inocência / rediviva:” (2019a, p. 27-8). Sobrenaturezas que se acumulam, retemperando a busca do inefável, do enfronhar-se ao possível abismo metafísico como salvação do signo saturado, pois a própria “reminiscência” é um engodo aguardado. Essa poesia segue a trilha aberta pelos simbolistas franceses no século XIX, mas se acumula de novas desobrigações reinventando os seus óbices para além da própria necessidade de registro da “luta” com o referente.
Não podemos deixar de perceber, logo neste início de análise, que há um traço de ironia em tudo isso, nesse esforço de fazer uma poesia que naufraga nos próprios signos que sustentam a vaguidão de seus propósitos claramente abstratos, simulando uma possível proeza didática. O poeta produz uma consciência poderosa da sua capacidade de se afastar e aproximar de palavras que são muito mais caras do que seus valores em si. É uma poesia difícil e ao mesmo tempo simples em seus propósitos de desafio das coisas “fora do lugar” que, na realidade, devem continuar dispersas, como nesse trecho de “Ensinamentos sobre a melancolia”:
Devemos permanecer
claridade nas mesuras
escuras das lembranças
e das memórias
para que sejamos
amanhecidos
na abundância
das tristezas,
horizontes despertos
ao acordarmos
à deriva, na tarde,
de olhos nostálgicos
e agora envelhecidos:
outras paisagens
a adornar o mistério
da luz
para que
não fadamos
o nosso destino
à bela sombra
da essência aflita.
(2019a, p. 30-1)
Tocamos aqui no ponto nevrálgico que conduzirá cada vez mais essa poesia na direção de uma memória nostálgica e consequentemente uma lavra discursiva que se possa apascentar ao bel prazer das incongruências entre representação e representado, como um torcicolo proposital da sua própria força fragmentária, já que a abstração é o pasto que prepara o caminho para uma utopia da linguagem, no fundo, através de um esforço aparentemente mnemônico, mas que apenas recuperam as transações entre o coberto e o descoberto, entre a vida e a morte possível da significação das palavras em sua origem, onde a união antitética soa como um escárnio à recondução ao próprio pasto da miséria metafísica que o Eu lírico se propôs enfrentar desde o início. Sua nostalgia não é de um tempo concreto vivido, pois esse não existe, ou de uma infância saudosa, propriamente, mas de uma possível paisagem que não havia sido tocada (e também não pode ser) pela própria poesia. Sua melancolia será infinita, intratável, fora da dispersão que seus versos a submetem, em uma reconfiguração do impermeável das palavras entre si, cada vez mais afastadas do contexto como origem, procurando, paradoxalmente, a tradução do inefável na própria nostalgia apoética. Bendita maldição[6] que o conduz aos ínvios caminhos do criar, no entanto que cobra, idem, o preço de uma nostalgia do intratável, onde só a folha em branco salvaria. Em “Miss trajada de acordes”, o Eu lírico se esmera em encontrar o equilíbrio entre o apelo da imagem e a agonia do registro: “E no seio de fera da Morte /só quem morre /é quem nunca morreu: /E ainda nos embebedamos/ dessa eternidade primitiva /que, é sim, a Morte /e a sua frialdade /extremamente azul.” (2019a, p. 47). Não há porto seguro para essa poesia a não ser uma vaga reminiscência do nada, que atrai, que imobiliza e faz o radical abstrato se flexionar verbalmente como uma insistência aliterante que intenta capturar a magia do instante que se apaga. A imagem não salva o Eu lírico, mas reafirma a nostalgia do nada, mote para a busca do “consolo metafísico”, consolidação da utopia apoética. Em “Música da agonia”, a vedação do inquieto, a passagem interrompida que pode apenas vislumbrar um aceno da sua verdade, o que permite, no fundo, a atração ainda mais inexorável ao nada que só pode ser expresso pela forma em dissolução, no apelo antipatético: “A voz calou-se/dentro das essências/ ruidosas” (2019a, p.54). Não apenas um paradoxo, mas um enfrentamento da ruína que o Eu lírico vinha palmilhando, aqui e ali, ao procurar um resgate do imponderável onde ele se afoga, ou onde as paisagens se confundem.
Vejamos, em outra obra, como o Eu lírico tenta definir uma ideia, a partir do poema “Tinteiros da cinza e do fogo”: “O homem é isto /o fogo em pó /sob a vida luzida” (2019b, p. 29). Nada menos humano que esse homem, puro fenômeno em si, abrasado ao elemento que, na expressão bachelardiana, visa ao repouso, em uma tentativa de reconfigurar o amor como doação, única maneira de permanência ao se autoconsumir, doando-se (BACHELARD, 1999, p. 25-38). Em “Tinteiros do ser a domar”, uma impressionante consolidação de Eu lírico como vagamundo idealista de uma irrealidade a manter o corte entre si e a liberdade para se livrar da loucura que se aproxima da sua utopia do nada: “E abismo, /o meu contínuo/alarmado/de vésperas/e amanhãs, /como ser--do-mar/que hoje sonha/náufrago/sem águas” (2019b, p. 46). O referente é naturalmente disfarçado pela imagem, nesse caso, reconduzindo o desejo para o adiamento do gozo, para a sobrevivência de uma introspecção salvadora, não a que limita a sua relação com o mundo, mas que a reavive em uma outra dimensão de enlace, própria da poesia, ou da sede de vida (dionisíaco) que sacrifica a vida para a claridade apolínea, por meio da supremacia da forma. Em “Pressentimentos da dor”, isso fica bem claro: “Resistir à ansiedade/ vital de estar aqui!” (2019b, p. 53). Sendo assim, é o apelo cotidiano que tem de ser vencido em prol da poesia, em prol da imagem, onde o que se vislumbra é o medo do fracasso, pois nem tudo pode ser poético, por isso, a simulada nostalgia de algum tempo perdido, apoético. Em “Visões da grande noite”, o referente é obnubilado em prol da imaginação de uma felicidade sonhada, de um ensaio de vida que é a própria poesia, agora, pulsando o seu apelo ao eterno: “A noite é vidência e silêncio/e paralisa os barulhos do dia/e comove o alimento dos gatos.” (2019b, p. 60). Ou então: “A noite é Altair/e seus perfumes/e sua seda de pele/e figo” (2019b, p. 61). Todas as comparações aqui – metáforas de engaste[7] – conduzem o Eu lírico à sua utopia, entre a noite retrabalhada e a musa edulcorada, sobretudo, temos a solidificação de um mundo poético casado à poética de vida, mas, tudo, quase pura simulação ainda, e isso não deve se confundir com os estímulos inerciais, por outro lado, pois o sacrifício tem seus predicativos altissonantes e alertas: “A noite é velha escudeira/dos rumores da rua” (2019b, p. 62). Seu mundo poético é uma reinvenção e reivindicação de um quase não lugar – utopia extrema, onde quer que o Eu lírico esteja, sempre próximo à ausência. Não é mais a torre de marfim; agora é a utopia se alimentando das sobras do caos, lutando entre a imagem e o prosaico, herança “maldita” que o pós-pós lateja ao espojar-se nas frinchas de qualquer crepúsculo tardio dos tempos que não estão por vir.
Essa maldição, que se conFORMA em impasse fronteiriço, melhor se alimenta a partir de amplo paradoxo, que sobreavisa a vida e a poesia num mesmo patamar de “vontade de representação”, confundindo-as, mas que não disfarça o cru simulacro por meio de adjetivos bem rumorosos, como vemos no poema “Tinteiros do bandoleiro-mensageiro”:
Todos os sonhos se atulham
desertos na casa escudeira
e asseveram
que os nossos assoalhos
de fantasmas e chagas
estão vivos e inglórios,
e o segredo advindo
das noites agressivas,
redime a insônia
das verdades do amanhã
impossível.
(2019b, p. 76)
Neste trecho, caberia toda uma poética de autossimulação, podemos entender. O Eu lírico assevera a si o poder de sonhar o sonho infértil (“desertos”) e se defender deles (“casa escudeira”). Defende-se, sobretudo, de uma ideia de vida traduzindo seus anseios em um aceno sem desespero para a própria utopia acenada, sempre nostálgica de um tempo apoético (“amanhã impossível”). Poesia que sabe seus limites e conhece seus emplastros (“redime a insônia”). O término desse poema é ainda mais sintomático da situação de um eu vagamundo, onde a disposição dos versos fala tanto como os signos em si:
Nossos rostos de febre
no retrato escurecido
de coração inacessível:
seus estrondos e açoites
ouçamos! (2019b, p. 77)
Toda a vagueza sugerida, que se espraia e termina exclamativamente, apenas insiste na transação de fronteira entre o sintoma da vida (im)possível e o rumor que alerta a perda da pureza. Sua utopia é a de dar a esse “eu” arruinado uma situação contemplativa por meio de uma consciência que se constrói, enquanto desmorona. Em “Promotor de alquimias”, passagens diversas se apresentam na mesma linha defensiva e faz da poesia a guardiã das trevas do “eu” que se incendeia e se esfria: “Com medo do luar feiticeiro e inquisitivo,/a noite fomentara seus segredos”, ou então, “Enquanto os vastos dezembros/permeavam uma névoa branca/na alma explosiva e estribeira,/os cajueiros na distância/ promoviam fumaça nas chuvas de agora”, ou “O Poeta acusara os seus faróis./Sabia também que a procela,/ao longe,/caçava uma fera insular/de dupla entidade.”, ou “O despenhadeiro do olhar queria claridade/ e as mãos sondavam eternidade/até que o espetáculo da linguagem/fosse apenas alquimia arruinada” (2019b, p. 80-1). Não há a mínima segurança nesses versos em relação a suposta “verdadeira vida deixada em algum outro tempo”, ou “a memória de resgate”, ou mesmo “os traços do esforço de ser feliz”, pois em nenhuma elevação que o Eu lírico procurasse se enganchar não passaria de crua simulação, ou de aceno a um tempo passado que não existe e um presente que se sustenta apenas em mais metáforas de engaste, produzindo ruídos de um ser inquieto e que deseja o nada como remediação de sua própria (sobre)natureza poética por destino. No entanto, fugir ao nada, à loucura, é o grande desafio de qualquer grande poeta na transação com o “consolo metafísico”, e na poesia de Diego Mendes Sousa isso se torna ainda mais agudo ao querer reunir, num assoberbamento de adjetivos estratégicos e altissonantes, as vozes ruinosas em um transe impossível entre a vida e a pureza ansiada: o resultado é ancoragem desesperada no imagístico, ou no perdulário que a linguagem (impotente) possa ainda sugerir como resgate. Tudo deságua numa poesia radical (mergulhada nas raízes do nada) e seus estilhaços de deslocamento[8] cada vez mais utópicos, dependente dos “estribos” dos recursos da linguagem.
Em outro livro, perceberemos o desejo de dispersão ainda vigoroso, entre a divergência e a convergência, como um mote contínuo da lavra de Diego Mendes Sousa, mesmo que seus títulos promovam uma ideia de unidade temática, a princípio (Gravidade das xananas; Tinteiros da casa e do coração desertos; O viajor de Altaíba; Velas náufragas; Fanais dos verdes luzeiros). No poema “Altaíba”, o início é sintomático do mesmo Eu lírico que busca o seu refúgio entre fronteiras, pois, entre o real e o irreal, ele se alimenta do esparso, do seu “não lugar” inventado, nem verdade, nem mentira: “Nasci na Parnaíba/ Amo Altair/Moro em Maringá. // Altaíba, meu país/de hibernar” (2019c, p. 14). Sua utopia ganha relevo ao juntar dois radicais de nomes próprios, que poderiam se juntar a outros tantos radicais que simplesmente reforçariam sua natureza vagante ou excruciante à sua “vontade de representação”, ou de pelo menos permitir mais um trânsito para sustentar a linguagem que se pausa como estratégia (hibernar). Em “O exílio” essa natureza poética vag(c)ante, que se engasta no abstrato do concreto, fica ainda mais evidente o caráter de reinvenção da natureza: “Quando deixei os ares/da terra santa/resolvi andar/em sina/cigana/para chegar/no choro/dos guarás” (2019c, p. 16). Sempre de lugar nenhum à solidão do desumano, ou sempre o desafio de se espojar no encanto do desencanto das palavras que apenas sugere um possível percurso, onde as promessas são sempre luxos do pensamento. Em versos muitas vezes enigmáticos, a poesia de Diego Mendes Sousa investe no percurso dos sentidos que já não são sentidos, como em “A coragem”: “O difícil é a ponte/repetir o lado/de um raio/nas duas/ claridades” (2019c, p. 20). A não distinção revela o desejo de uniformidade de sua utopia apoética, de saber que a linguagem tem um limite e se autoprovoca para tentar a autodissolução por meio da beleza que também se extingue e vive do brilho anterior. O desejo é sempre um desejo de um passado de memória cada vez mais abstrata. Em “O porto”, a capacidade de enlace surpreende pela naturalidade como o Eu lírico se antecipa à própria ameaça de dissolução:
Como um casulo estrangeiro
estou no ninho de pássaros
aberto ao continente
e ao sagrado de um voo
O poeta é ave
e o porto é escuro
não se conhecem
o trovador
e o suposto rasante
(2019c, p. 26)
Ao ler e reler esses versos, de uma exatidão impressionante para captar o momento que morre, o Eu lírico propõe a sua armadilha como uma resposta para ocupar um lugar que não existe, ou um “porto” que nunca se deixará aportar. Observemos os termos comparativos iniciais: “casulo estrangeiro”; “ninho de pássaros”; “aberto ao continente”. Estão todos enlaçados em uma ideia de abstinência ou de não ação. O voo é sagrado, porque contemplativo. O poeta como ave, por meio do próprio ato intangível do voar, é o contemplador do nada. Ao final, o poeta e o pássaro se distanciam, como fundamento dos destroços a manter a sobrevivência da linguagem a qualquer custo, o que no fundo investe mais uma vez na sua utopia apoética. Essa condição de investir sempre no abstrato, para manter alerta o subterfúgio de rearticulada rememoração, procura, no fundo, sempre uma outra esfera de ancoragem, sim, um porto que possa ajudar o Eu lírico na sua luta de crua e cozida (dis)simulação, como no poema “O mistério”: “Aprendeu a alma/nas esporas de um raio/e o coração/na agulha/de um sussurro: // vida” (2019c, p. 42). O Eu lírico só sabe a vida que se tornou sopro poético. Na melhor das hipóteses, em termos de sobrevivência da linguagem, vida e poesia estão unidas para reforçar a estrutura claudicante que mantém a mínima tensão para o próprio refúgio da ameaça. Todo o seu trabalho, aqui, se consolida em mais uma vagueza ou uma nostálgica fabricação de uma reminiscência a partir de estilhaços que se juntam à força do acaso por meio de uma consciência poderosa e poética do seu papel de transações entre fronteiras fluídicas, ou melhor, na imprecisão de qualquer realidade possível, mesmo que ela nos remeta a paisagens factíveis de uma geografia física ou humana.
Vejamos como em outros fragmentos, de mais poemas do mesmo livro, há todo um desfilar de tateabilidade estratégica em torno do nada, a ponto de podermos dizer que, a certa altura, há uma nostalgia do desejo de se sentir nostálgico em relação ao próprio nada, ou ao próprio desejo, já que o trabalho de esvaziamento foi sendo primoroso na sua maneira de engastar as metáforas no caminho de uma permanência vaga, ou vacante, em uma memória intraduzível nos termos de revelação em que se colocam: “A revolta/do caminho grave/o vazio inesperado/do vagido” (2019c, p. 45). Lembrar aqui é perder a própria lembrança. Ou, mais adiante, “na profusão da pele // de bradar sem ecos” (2019c, p. 46), em que qualquer sensação física se torna uma aproximação ao drama metafísico que o prazer não pode sustentar. Ou, então, “Amar/é uma armadilha/certeira/nos frutos/carcomidos/da beleza” (2019c, p. 68). Nesse caso, o prêmio, ao final da caminhada, é engodo do que foi prometido pelo próprio percurso poético. E então, “Aqui/ a passagem/dos dias/é tufão/em silêncio” (2019c, p. 70). Sendo assim, a vida não se aprimora, pois o que se mantém é a imagem como sugestão de sobrevida. E quando “minha avó chamava-me/para alimentar-me/do pão ressecado/das horas forasteiras/de seu rosário/sabido/e repetitivo” (2019c, p. 76), notamos que qualquer reminiscência é apenas rumor de uma enunciação do abstratamente reconhecível, na verdade, sobretudo, uma enunciação de um percurso possível e impossível, pois o referente é quase puro ardil por meio de uma trama entre o passado e o que o presente poético desejaria reter com o permanente (“sabido” e “repetitivo”).
Em outro livro, um tributo a suas raízes telúricas e marítimas, de uma Parnaíba, ou Altaíba, vibrante em sua memória poética, com suas praias, siris, veleiros, que se misturam a memórias de amigos, familiares, vivos ou mortos; um livro que procura avidamente preencher os vácuos e questões levantadas anteriormente com uma profusão de signos extraordinária. No entanto, mais uma vez, sua arte reaviva, em diversos momentos, a exaustão no caminho, do percurso que fascina e se esvazia pela necessidade do próprio percurso: “Sombras da noite incompleta/onde o meu coração/morreu vivo” (2019d, p.14). O paradoxo é a senha que torna possível a maldição de sua sina poética e também um diálogo quase sempre pela metade, entre a memória e a forma, que se incendeia na forja do desânimo. Mais adiante, o Eu lírico se queda diante da constatação de seus limites de soberba do abatimento: “Siris, alma da minha alma, direção indiscreta/ do meu dedilhar derrotado// Só vagando no silêncio, /os meus siris e eu, / em suprema tristeza...” (2019d, p. 15). A curva ou o cálculo, em versos que se estendem e se contêm ainda no invólucro de dispersão, não nos deixa dúvida em relação ao que inquieta o Eu lírico: a batalha que trava com suas raízes é uma batalha com o nada, uma atração indefectível ao desejo de não desejar. O estado de espírito, superlativado, apenas traduz a impotência de relação entre o criador e a forja. Ou entre a vida propriamente e a vida redescoberta e abandonada às lembranças, pois já não há distinções possíveis em uma lírica que se quer mais e mais radical, procurando remexer as entranhas de uma memória impossível.
Há, por outro lado, um esforço de autodidata dos próprios escombros deixados pelo percurso através de uma memória que se incendeia com brilhos e se fustiga em rastros e rastros de impedimentos: “Não havia outra face somente a sombra/ da morte e o meu inglorioso disfarce” (2019, p. 17). Sua adesão ao simulacro é sempre um compartilhamento calculado de riscos entre abstratos. O Eu lírico sabe que não pode ser mais do que enunciação do seu próprio poema que, no fundo, não ensina nada no seu percurso autodidata, pois, aqui, sua nostalgia já não sabe bem como nomear o objeto. Vejamos como isso se agudiza quando os referentes parecem ganhar um corpo visível para um possível leitor sequioso por paisagens e descrições, no poema “Porto do Igaraçu”:
Quando franceses, ingleses, americanos, alemães,
espanhóis, portugueses e fenícios e persas –
estes donos da Pasárgada do Manuel
Bandeira – eram pertinências
nas águas de Altaíba, cidade imaginária
avidamente poética e linda
que eu quis só pra mim
Ave do destino latente
do desejo
(2019d, p. 47)
Todos os indicativos factíveis são embustes prosaicos para se chegar a Altaíba, na curva da verdade, uma utopia nomeada que transaciona, sugestivamente, com a Pasárgada do famoso poeta pernambucano. Sua utopia é um engaste à fragilidade da própria chegada (ave do destino latente do desejo), por meio de um incêndio de percurso, perdido no próprio desastre de ter existido e se feito poeta com o intuito de misturar memórias, quando todas as nomeações são precárias, mesmo as mais aparentemente factíveis. Altair/Parnaíba = Altaíba é o impossível que o poeta enfeita na sua avidez de imagens falso-terapêuticas, a concorrer com a história, a geografia física, a literatura, enfim, a reforçar a estrutura para a caminhada ao, agora, vag(c)ante. Seu percurso é tão somente enunciação ao nada (desejo de não desejar), à sobrevida de uma existência a se forjar na precariedade das reminiscências. Altaíba é o paraíso ansiado, por isso lugar nenhum, por meio de uma ânsia de permanência utópica (ou o não lugar), que acena para o antes do contágio poético, como vimos em poemas anteriores. O Eu lírico se afoga nas próprias águas que desenham garatujas em seu imaginário sedento por mais e mais imagens que force a retrabalhar o estímulo original, para manter o circuito no próprio abstrato, apesar do apelo concreto de sua terra natal, como em “Paragens do mundo emerso”, rico em elementos regionais:
Dos caranguejos
e dos siris
migram
quebra-mares
quedas-d’água
que não versam
outros desejos
somente fainas
do temível
porque o que está à vista
é paragem de um universo
minuciosamente
desprezível
(2019d, p. 67)
Nesses versos, onde a dispersão é ainda mais evidente, o trabalho poético, uma “faina” exaustiva, claro, é na verdade um esforço de desconstrução do referente, por isso desdenhador e integrador da origem, concomitantemente. São versos ferozes que se voltam contra os próprios elementos motivadores do estado poético (paragem de um universo minuciosamente desprezível). Siris e caranguejos existem como molduras (não versam outros desejos), apesar de serem referências fundamentais na composição de sua Altaíba, a essa altura. A geografia porosa da poesia de Diego Mendes Sousa é ávida por imagens redentoras, mas que solucionam apenas o que já estava remediado pela própria antecipação da imagem, na relação com o referente: “Revoada dos Guarás no Parnaíba/Armadilhas na claridade solar do Parnaíba!” (2019d, p. 81). Do rio à cidade, tudo é disperso e poético, porque criou a consciência do risco. Ele planta os alimentos do espírito e sabe o terreno pantanoso em que pisa, perigosamente, sendo seduzido ao confronto com os fragmentos que ele mesmo espalha. A memória pede para ser retrabalhada até à exaustão. Mas o estado poético é mortal. Fronteira tênue entre mundos que precisam ser partilhados de alguma maneira, como em um outro poema: “Magia/que ousaria/tornar real/para que/o avanço/das areias/finíssimas/tardassem/a dividir/dois países/litorâneos” (2019d, p. 69). O desejo de se plantar em sua utopia, seja Parnaíba ou Altaíba, ou mesmo Maringá, torna-se o grande elemento motivador além dos motivos iniciais do colorido de sua região litorânea e o transe poético, sempre paradoxalmente perturbador, pois é o único passaporte para a sua afirmação de vida, no entanto, vida forjada, como já sabemos. Em “Ilhas de paus”, seu trânsito (ou transe), de um ponto a outro, possibilita que nos detenhamos em uma imagem revigorante do seu estado de esvaziamento: “De náufrago/à terra natalícia/onde perdi o marejar/dos olhos vagidos/de dor/mirada de crustáceo/à alerta/no afluxo das marés” (2019d, p. 93). Sobra-lhe sempre um aceno que poderia ser reinventado no próprio desejo da enunciação. O que não deixa de ser um outro estado em sua poesia paradoxal, já que a perda, aqui, é tão desejada como a própria imagem advinda dela.
Em seu último livro lançado no ano de 2019, sua poesia mantém, em diversos momentos, as mesmas tensões enunciativas de imagens que possam vir como salvaguarda do próprio estado poético despertado: “Escrevamos ainda os silêncios/do querer dos sinos absurdos/ (Ávidos das cores dos barulhos!) /na tarde esverdeada/deste ser triste e empoeirado/ – as minhas couraças absolutas!” (2019e, p. 14). Mais uma vez o estado de espírito evoca a contradição do ser e parecer de maneira radical, entretanto, essencial para essa poesia palmilhada entre paradoxos entrelaçados, pois a situação protetiva ansiada se projeta para defender o seu estado de inércia, fundamento de tudo que poderá ser recriado por meio de mais adjetivos sonoros. Em um poema de autorrecusa subjuntiva, “Fanal do van Gogh irrevelado”, as imagens pululam de uma maneira a provocar o ser que se encolhe, diante do monumental abstrato que se avizinha, perigosamente, ao seu talho ensurdecedor: “A oeste, o crepúsculo em diversos tons/sangrava sua vertigem de fim: (...) O poente nascia na fera dos olhos entardecidos (...) os incêndios do mundo/deflorando os abismos do humano.” (2019e, p. 20). Nesses três momentos selecionados, as condições dadas reviram o adiamento de encontro ao caos, ao nada, tornando sua angústia o sujeito a ser revelado diante do desejo maior de atingir o absoluto, por meio do mistério que deve mover até o último instante o gesto de uma poesia de caráter suicida (o desejo de não desejar, sua utopia máxima), não gratuitamente, a homenagem ao grande pintor pós-impressionista que deu cabo à sua existência: “o insanável mesmo no navalhado corpo/das cousas não reveladas.” (2019e, p. 21). Estamos, apesar da negação a priori através da ânsia utópica, próximos da epifania poética, mesmo quando ela mais se fecha em seus segredos de fábrica por meio de intricados labirintos verbais, pois tudo passa a ser enunciação e isso basta para a grande poesia em nossos tempos de fragmentos cada vez mais selecionáveis, que tangencia uma espécie de neobarroco reconhecível próximo ao desejo do caos ou do abismo desarticulado e órfão de referentes. Pois essa sensação de “descobertura” nesse poema provoca a situação limite de uma consciência onde o dizer é desatar-se da própria coragem que o levou próximo à revelação através do encanto poético. Essa consciência perturbadora de que o fazer poético não passa de espanto diante do “irrevelado” o leva sempre ao limite e à sedução ao nada, quase que inevitavelmente: “Cerrei os olhos/ e deixei que vazassem/os sais/furiosos dos meus tormentos/ que dormem.” (2019e, p. 23). Deixar o segredo protegido é quase uma tônica na poesia de Diego Mendes Sousa, de uma maneira ou de outra transversal. É o elemento impulsionador que faz da divergência à convergência dos elementos dispersos que reinventam seus referentes em um contexto incendiado de mais e mais metáforas de engaste. Só há sobrevivência na imagem e sua alegórica permanência (vazassem os sais furiosos), na reunião dos contrários (sonhador = desperto) que apontam para mais sobrenaturezas em busca ainda do “consolo metafísico”, antes mesmo de ansiar o estado nirvânico, ou a ausência da própria inquietação poética.
O apelo do Eu lírico é um desafio perturbador da própria ordem imposta pela realidade poética obscura, em luta com a conFORMidade: “Deus sabe da dor/que imprimo em versos enfim/ e em ruídos de claridade.” (2019e, p. 25). O ouvido Outro[9] configura a trilha que o leva à elevação da própria voz. O Eu lírico fala por um outro que é, agora, a Voz, o que elucida e propõe a saída estética, ou apolínea, de certa maneira. A perturbação trágico-dionisíaca convida a ouvir essa música dos sonhos que produz a magia da criação. O tempo todo o Eu lírico, portador de uma voz poderosa, lida com um ambiente hostil e convidativo ao mesmo tempo, capaz de recompensar o próprio peso da existência, mas sem saída, a não ser pelo provisório “consolo metafísico” do próprio circuito “lírico” textual que, por outro lado, no caso, está fadado à solidão da letra impressa. A poesia escrita, no entanto, não perde a sua vinculação com o corpo oral, que Paul Zumthor chama de “sinalização modal”. A conjugação do “textual” e do “modal” (ZUMTHOR, 1993, p. 160) geram a obra na sua origem de extraordinários, por meio das imagens convergentes (metáforas de engaste). Qualquer lapso não é um “ato falho”, o que poderia ser uma pobre explicação psicológica dos impulsos neuróticos de criação meramente sublimatória, o que levaria à hipotética Obra. O lapso é a voz gritando a sua índole inquieta de conFORMação enquanto Obra: “Sou – mirando os meus labirintos em queda –/ a cachoeira ruminando horizontes fantasmas/ e esquecidos. /Eu e o passado, / triste exclamação conjugada!” (2019e, p. 27). Nesses versos, de rara precisão, encontramos uns poucos segredos de fábrica por meio de um imaginário que faz da impotência o mote incessante de uma poética acolhedora de disparates. Entre o Eu lírico e o referente, as sobras metonímicas[10] da batalha que urde o discurso altamente elaborado. Há uma sutil crueldade na maneira de tratar essa contradição de uma imagística que celebra a própria morte por meio do incontornável. Aqui o poeta assume o seu destino trágico de fazedor dos contrários enquanto a existência e os elementos motivadores originais não passam de pretextos descartáveis em prol do enlace “paradóxico”: as toxinas se espalham inapelavelmente em torno da vocação e da busca do incansável e se permite ao luxo de se precaver em nome da própria precariedade do fazer criativo. A poesia não é mais do que subterfúgio e emblema de “paraísos perdidos”, apenas encenados na recapitulação brevemente sugerida pela imagem e sua inevitável derrocada alegórica.
As dificuldades, comumente para se lidar com certo tipo de poesia contemporânea, vem do desconhecimento de muitos leitores em relação ao relevo semântico que a palavra tende a luzir diante de um aparente contexto original. Toda grande poesia atua na transversalidade do contexto em que está inserido, principalmente a poesia moderna ou pós-moderna, ou mesmo a pós-pós. Como é um trabalho de alta voltagem linguística, a voz do texto se volta para uma outra voz (ou a Voz)[11] que não apenas se situa no plano semântico, mas também sonoro, vocabular e, principalmente, de ausência. A poesia de Diego Mendes Sousa investe nesses aspectos com sobras, por exemplo, em “Fanal do nascimento do tempo”: “À noite, não fecharei os sinos dos meus mistérios. /Abrirei o nevoeiro/que rompe o coração no desfiladeiro abaixo.” (2019e, p. 28). O subterfúgio proposto joga com as potencialidades do idioma e qualquer significação a priori despenca para o abismo das representações. Nesse caso, o poema convida o leitor a voltar avidamente para esses significados perdidos. É um recurso já sabido, mas que um Eu lírico, em raros momentos, atinge com maestria. Mais adiante, no poema “Fanal do amigo lírico”, o desmoronamento da sua estrutura poética é evidente, mas é sobretudo alimento de uma alma que se afina na percepção do “ouvido Outro”: “A poesia tem o seu tempo, o meu passou. / (...) Poeta, amigo, sou: o mais antigo beletrista em ruínas.” (2019e, p. 30-1). A tensão entre modal e textual é gritante aqui, pois nos remete a um problema crônico de localização da problemática lírica de Diego Mendes Sousa: a letra resgata e provoca ao mesmo tempo o abismo. É uma luta constante entre o ser e parecer, mas é sobretudo uma afirmação da própria palavra poética que, por meio das imagens, alimenta-se das va(g)câncias sugeridas na inter-relação entre vazios que ficam para trás, mas que não prometem devires. Suas indagações ganham conotações ainda mais emblemáticas quando o Eu lírico revira as próprias entranhas do fazer literário como uma maneira de adiar estrategicamente a significação ameaçadora, como no curto e extraordinário “Fanal da chuva ausente”:
A tarde era uma queda d’água.
A noite é um abismo.
Repara as nuvens em combustão!
Quem dirá – que o azul na mescla
de branco e cinza –
são metades
de um tempo banhado de luz?
(2019e, p. 38)
Os elementos da natureza, furiosamente desumana, embrenham-se em uma química muito particular do caldeirão lírico de Diego Mendes Sousa. Levado por essa força inconveniente do ouvido Outro, o Eu lírico está empenhado em traduzir qualquer desafio de intangibilidade por meio de uma provocação de deslocamento radical. As cores são pretextos de supostas significações já perdidas, pois a sobrevivência da imagem dá a legitimação que sustenta qualquer voo em torno do seu abismo inescrutável por outras vias. O que perdura, no sujeito ausente (plural ou/e singular), divide sua responsabilidade com o predicativo, responsável por determinar o brilho por onde a ausência transitará em busca da profundidade sugerida através do esgar abissal, mas que venha a impedir o golpe último por meio da indagação extemporânea e resistir ao mergulho na sua utopia apoética.
Quem se aventurar por essa poesia encontrará dificuldades e gratificações estéticas recompensadoras. É preciso não ter pressa. Reler com cuidado cada paragem sugerida que investe sempre em curvas que intentam confundir o homem ao poeta, dois seres com compromissos distintos, no entanto, compartilhando a mesma existência; o primeiro convida para a dança, o segundo não poupará retóricas para a música não parar de tocar: “Diego carregava a escuridão nos olhos.” (2019e, p. 52). O Eu convencional conhece a sina, mas sabe das fronteiras como constatamos no final do parágrafo do poema narrativo “O canceriano lunático”: “(...) poderia alçar, quem sabe, o poder do tempo imaginário, em fábula romântica.” (2019e, p. 52). Seu destino é a beleza, após o turbilhão do desejo da matéria, fulgor dionisíaco, o que vemos também em um outro poema: “Fui fulminado no clarão.” (2019e, p. 53). O segredo de sua máquina fabular e poética consigna a si o transacionamento das fronteiras como elemento de fundacional e de permanência, única maneira de escapar da sina da autodissolução poética contemporânea, como também no poema “A revelação”: “Quis, enquanto poeta, ser a metamorfose dos anjos. // Consegui sangrar.” (2019e, p. 62). Toda dissolução na lírica radical dieguiana perpassa o entrecruzamento de esferas altamente abstratas de divergência e convergência, em constantes batalhas de engaste. A imagem, que dá sinal de vida (sangrar), ao mesmo tempo, por meio da tensão semântica, remete-nos à morte: física, poética? Não importa. A morte, traduzida em tantos signos como abismo, perda, voo etc., ao longo de seus cinco livros publicados em 2019, é uma constante e se torna o intermediador entre a criação e o impulso destrutivo: “Sei que irei voar.” (2019e, p. 63). Ou, “Que sangra eterno os seus abismos foragidos/ do sem fim.” (2019e, p. 72). Ou, “E o céu abrigará/outro azul ruído/nos sentimentos/ regressados/do sono amargo – / pedra vil – cintilações mortas, / passarinhos.” (2019e, p. 72-3). Em todos esses momentos, mais uma vez, e em diversos outros poemas, constatar-se-á esse fenômeno, através da investidura do Eu lírico nas sobras metonímicas de seu destino andarilho, no seu inestimável apego ao volátil, em meio à própria angústia da criação. Tudo clama para o fim, mas a “pedra vil” precisa ser trabalhada e o resgata de uma morte simbólica por meio da poesia. Ou mesmo do fim do discurso, ou o fim propriamente como suspensão do sentido, pois, para esse Eu lírico, incendiado nas chamas que se extinguem, o “Poema” seria a “sangria/de uma invasora/despida.” (2019e, p. 85). Sim, um poema que não pudesse ser mais que um incômodo ao despertar uma vida tão próxima da extinção que propõe a batalha através de labirintos e segredos parcos do funcionamento da fábrica poética por meio de uma linguagem mui particular e fragmentária.
Para mim, não há dúvida que os cinco livros analisados, de maneira apenas pontual aqui, contém uma poética em comum; por outro lado, evidentemente não pretendi fazer uma leitura exaustiva da produção de Diego Mendes Sousa publicada no ano de 2019, apesar de me centrar em alguns aspectos obsedantes de sua lavra. Esses e outros livros publicados pelo autor poderão ser melhor compreendidos e aprofundados por uma visão mais ampla de conjunto em futuras teses acadêmicas, principalmente para jovens estudantes que queiram entrar em contato com a boa poesia escrita e ainda produzida no Brasil, principalmente fora dos eixos centrais. Diego Mendes Sousa é uma voz poderosa soprada do litoral do Piauí, que ressoa todo grande poetar contemporâneo, na verdade. Minha análise apenas propôs transacionar algumas esferas de diálogo entre a expressão e os elementos motivadores que levam a contradições básicas para a consubstanciação de uma Obra, onde os furos da alma dos nossos tempos impõem muitas vezes um recolhimento estratégico como resistência como nessa poesia perturbadora de raízes exibidas esparsamente entre traduções de um mundo que só pode ser percebido inquieto.
REFERÊNCIAS:
ANDRADE, C. D. Fazendeiro do ar. Reunião: 10 livros de poesia. 4.ed. Rio de Janeiro: José OIympio, 1973. P. 219-245
BACHELARD, G. A psicanálise do fogo. Trad. Paulo Neves. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 171 p.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Trad. Ephraim F. Alves. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 319 p.
GAGNEBIN, J. M. Após Auschwitz. In: SILVA, M. S-. (Org.) História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Unicamp, 2003. P. 89-110
HAMBURGER, M. A verdade da poesia: tensões na poesia modernista desde Baudelaire. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 460 p.
LEMINSKI, P. Poesia: a paixão da linguagem. In: CARDOSO, S. (Org.) Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. P. 283-306
LINS, R. L. Os gêneros: conflito e significação. Violência e literatura. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1990. P. 83-93
LYRA, P. Conceito de poesia. 2.ed. São Paulo: Ática, 1992. 96 p.
MOISÉS, L. P-. A inútil poesia de Mallarmé. Inútil poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. P. 29-34
NIETZSCHE, F. O nascimento da tragédia: ou helenismo e pessimismo. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 177 p.
PAZ, O. A imagem. Signos em rotação. 2.ed. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva, 1976. P. 37-50
SOUSA, D. M. Gravidade das xananas. Guaratinguetá: Penalux, 2019a. 60 p.
___. Tinteiros da casa e do coração desertos. Guaratinguetá: Penalux, 2019b. 98 p.
___. O viajor de Altaíba. Guaratinguetá: Penalux, 2019c. 99 p.
___. Velas náufragas. Guaratinguetá: Penalux, 2019d. 99 p.
___. Fanais dos verdes luzeiros. Guaratinguetá: Penalux, 2019e. 89 p.
TOLENTINO, B. O mundo como ideia: 1959-1999. São Paulo: Globo, 2002. 445p.
ZUMTHOR, P. A letra e a voz: a “literatura” medieval. Trad. Amálio Pinheiro e Jerusa P. Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 324 p.
[1] Considero tempos “pós-pós” uma situação de completo desconcerto diante do legado moderno e pós-moderno. Não há mais a mínima segurança de que uma “decadência cultural” sirva de transição para novas expectativas de valores edificantes ou salvacionistas da humanidade ou da arte.
[2] A ideia de ruína segue a concepção de alegoria em Walter Benjamin: aquilo que envelhece e permanece.
[3] Ao publicar Um coup de dés, em 1897, Stéphane Mallarmé rompeu com todos os limites impostos pela espacialização da palavra na página em branco, fazendo o texto, fragmentário, dialogar com as lacunas entre as próprias palavras, provocando um abismo e um esgotamento discursivo abalador.
[4] Para a maioria dos teóricos do pós-moderno, este período garante as experimentações modernistas, sem a angústia de perpetuidade.
[5] Entendamos a maldição como um emblema que marca o pré-romantismo, romantismo e pós-romantismo como parte indissociável da poesia moderna. Portador dessa marca, o poeta se depara com uma indissolubilidade transacional entre o mundo burguês e a decadência que a linguagem deve expressar a partir de então.
[6] A maldição, principalmente, sobre os poetas pós-românticos acompanha uma espécie de dedilhar entre o objeto e a representação em que o ser, fragmentário, obriga a uma escolha radical: ou a vida, para os simples mortais, ou a eternidade por meio da alta criação. Muitos morreram embriagados e esquecidos.
[7] Chamo metáforas de engaste aquilo que permite uma intercalação quase direta entre o referente e a ânsia de representação de permanência.
[8] Estilhaços de deslocamentos retoma uma compreensão cara à psicanálise estrutural que trabalha com as sobras discursivas para descobrir as pistas da construção da consciência que não deixa ser uma outra matéria para o que o próprio discurso deixou de dizer, mas que está implícito ao interpretante.
[9] O ouvido Outro é a qualidade que se aprimora em nome da Obra. É a percepção privilegiada que persegue a sombra, aceitando a luz. É o (in)consciente da obra talhando o seu servo criador a uma vontade superior em nome da beleza.
[10] As sobras metonímicas são compreendidos, na teoria estrutural da psicanálise lacaniana, como as sobras da batalha da linguagem em busca da metáfora (ou imagem) redentora. O deslocamento metonímico permite, de uma parte à outra, a configuração metafórica propriamente. Esse conceito liga-se aos estilhaços de deslocamento que permitem o trânsito.
[11] A Voz, em maiúscula, ou mesmo a Obra, ou o Outro, representam partes importantes da relação consciente-inconsciente da construção criativa, que pode ser compreendida em um todo cósmico do qual a poesia é testemunha privilegiada.
=====
Estudo de João Carlos de Carvalho, doutor em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É poeta, contista, romancista e ensaísta. Professor Titular da Universidade Federal do Acre (UFAC) há 28 anos.