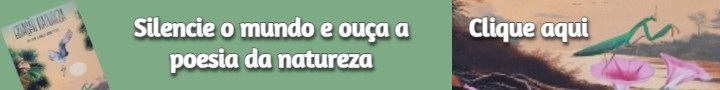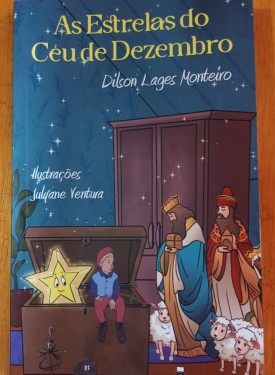ALMOÇO DE DOMINGO
 Por Jose Ribamar Garcia Em: 15/11/2021, às 18H41
Por Jose Ribamar Garcia Em: 15/11/2021, às 18H41
[José Ribamar Garcia]
Andava faltando carne na cidade. Até de bode, que sempre houve em abundância e era vendida às segundas-feiras, no Mercado Velho. Que disparate! O estado, que já teve o maior rebanho bovino do país, tido como referência nacional – “O meu boi morreu/ Que será de mim? Manda buscar outro? Lá no Piauí” -, de repente, sem carne. Açougues vazios, magarefes entregues às moscas – literalmente. A solução foi trazer galinhas do interior, precisamente, de Morrinhos, que chegavam aos domingos em caminhões, amontoadas em caixotes de madeira. Venda racionada. No máximo, duas para cada pessoa.
Outra missão que me foi atribuída: comprar galinha. No domingo, ainda no escuro, escorrendo suor pela testa, pois o calor da Chapada do Corisco nunca descansa, eu me dirigia para o parque da Bandeira. Caminhava, ou melhor, cambaleava de sono, tirando remelas dos cantos dos olhos e ruminando a revolta, de quase dois anos, que se avolumava no meu coração. De longe, avistava gente enfileirada sob os oitizeiros. Havia neguinho que levava até esteira para pernoitar no local. Pelas oito horas, iniciava o atendimento. A fila se arrastava preguiçosamente. Antes, as galinhas eram vistoriadas, pelo único inspetor da Saúde Pública que havia na cidade. Senhor idoso, sisudo, de feições estrangeiras, marido da madame Helena, professora de Francês no Liceu. Ele se tornou o terror dos leiteiros, que vendiam leite pelas ruas dentro de latões, carregados nos lombos de jumentos. O problema era que muitos deles, para ampliar a margem de lucro, colocava água no leite, apanhada na beira do rio. E o homem da Saúde marcava em cima. Quando pegava um espertalhão, mandava prender e derramar o leite na rua, na frente de todo mundo. O povo gostava. Aplaudia e batia palmas. No imaginário popular, era o mocinho contra bandidos. Dizem que um dia, ele encontrou até camarão dentro de um dos latões.
Por essa razão, o litro de leite destinado à minha irmã caçula vinha das vacas do coronel Fialho, que as mantinha num improvisado curral, no quintal de sua residência. A mim cabia buscá-lo. Pior do que acordar cedinho era alcançar o dito curral. Eu tinha que atravessar o longo corredor externo da casa, entulhado de fezes e urina dos meninos do coronel, aos pulos, desviando do toletes e com a mão tapando o nariz por causa do fedor. Aquilo fedia mais que carniça. Era minha ginástica diária, meu café da manhã.
O dinheiro só dava para comprar uma galinha, que eu trazia debaixo do braço como um troféu. Isso depois de quase duas horas de fila. Ao chegar, coloquei-a na cozinha. Enquanto a água fervia na panela, ela conseguiu desvencilhar-se da embira que amarrava seus pés e correu para o quintal. Só ouvi o grito da empregada que a galinha se soltara. Lá fomos eu e meu irmão pegá-la. Corre prá lá; corre prá cá; volta aqui; vai por ali; não, por lá... E a danada em zigezague, tirava fino, derrapava, driblava e... entrou na latrina. A fossa estava destampada, caiu no buraco.
- Vige Maria, ficamos sem almoço! – disse a tia que morava com a gente.
A gente vivia numa pindaíba que não se podia dar ao luxo de perder uma galinha, mesmo atolada na merda.
Meu irmão fez um laço na ponta do talo de buriti e eu, ao lado , segurava uma lamparina.
- Tá vendo alguma coisa?
- Só bosta.
- Tô me referindo à galinha – disse meu irmão já irritado, porque quando tentava laçá-la, ela mergulhava de cabeça.
E o cheiro? Entrava pelas narinas e descia direto para os pulmões, estômago, o corpo todo.
Depois de várias tentativas, finalmente, ele conseguiu laçar. E bicha subiu debatendo-se, respingando bosta para todos os lados. E nós, encharcados, com merda até nos cabelos. Mas, salvamos o almoço.