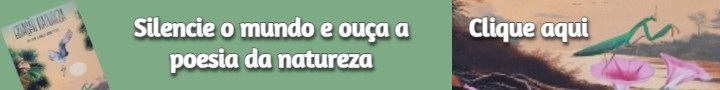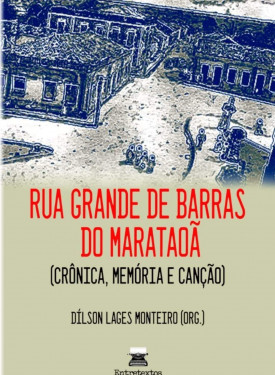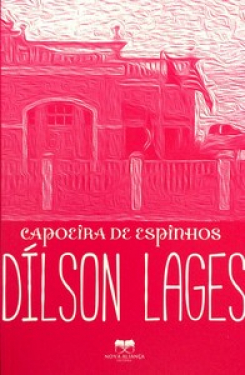A penitenciária
Em: 31/08/2006, às 21H00
A penitenciária me fascinava. Não pela dimensão de seu prédio, ou pela altura de seu muro, coberto por fios elétricos descascados. Conta-se que fugitivos morreram eletrocutados por esses fios. Essa fascinação consistia numa curiosidade de saber o que se passava no seu interior e de como era a vida de seus habitantes e a razão que os levou para ali. Quando indagava às pessoas grandes esse motivo, respondiam-me com evasivas respostas, ou de modo vago, lacônico, talvez, por comodidade ou por acreditarem que criança não devia saber dessas coisas. E me enfatizavam que preso não prestava, era gente ruim, sem alma, capaz de tudo. Isso, com certeza, me foi desenvolvendo um sentimento para com ele de repulsa, desprezo. Quando via a turma de presos limpando as ruas, as praças ou descendo escoltados a Firmino Pires, rumo ao Tribunal, sentia algo como se fosse nojo. Realmente, pareciam uns párias: maltrapilhos, subnutridos. Espantava-me que os meninos de minha rua não tivessem o mesmo sentimento, pois demonstravam admiração e até piedade. Também não metiam medo. Nem mesmo um de quem diziam que matava crianças para comer os miolos. Os famosos, sobre os quais corriam estórias de bravura e valentia, como o Canaã, ou Zezé Leão, simplesmente, eu não acreditava nessas estórias. E as achava iguais, sem valor algum. Nos julgamentos de crimes envolvendo gente importante, que a Rádio Difusora se preocupava em transmitir, sempre me colocava ao lado da acusação. E me revoltava com a absolvição. No entanto, a curiosidade de saber o cotidiano da cadeia estava comigo.
Gostava de passar pela porta de bicicleta, ou nos ônibus que faziam as linhas de Timon e Matadouro, a fim de espiar o seu interior. Mas, não via além do portão de ferro dividindo o longo corredor de entrada. Á frente, do outro lado da rua, sob enormes árvores, os guardas passavam o dia conversando enquanto um se escondia dentro da guarita. Via-se também, em conversas com os financeiramente remediados. Aliás, não se notava preso endinheirado limpando logradouros públicos. Essa discriminação me causou estranheza. E me mostrou o inverso da moeda. A sociedade traça normas de condutas e quem as viola, será segregado, isolado; porém, se o violador for possuidor de bens materiais, a regra é mudada. A própria sociedade se inclina, se corrompe, invertendo seus valores. Percebi cedo na farsa dos julgamentos. A balança da justiça pendendo contra o pobre de dinheiro para vergonha da deusa Nemesis.
Ao lado do portão de entrada, espalhados sobre a calçada, os presos expunham, à venda, seus trabalhos de artesanatos, feitos de madeira, cerâmica, embira. Bem elaborados, confeccionados. Caminhões de madeira, com réplica de várias marcas de carros de verdade. Mas, impulsionado pelo meu sentimento, acima dito, preferia os caminhões de buriti que meu irmão fazia e com os quais brincava, enchendo-os de campim, apanhado no próprio largo da penitenciária para dar de comer aos meus préas-do-rei. Mesmo porque, os que meu irmão fazia, além de mais bonitos, não custavam dinheiro.
Nesse largo que se estendia diante do prédio, até circo fora armado, mas depois a prefeitura suspendeu a licença para essa finalidade, alegando medida de segurança. Já se falava em segurança... Tolice, aqueles presos subnutridos não tinham força para evadirem. Nunca ouvi falar de fugas, nem de tentativas, pelo menos, em massa. Os que conheci, mais tarde, viviam resignados, conscientes de que estavam pagando o crime cometido. e ainda respeitavam a Justiça, inclusive, conhecendo sua vulnerabilidade.
O sentimento de repulsa, nojo, que eu tinha daqueles infelizes foi, com o decorrer do tempo, me abandonando. Exatamente, à proporção em que esse mesmo tempo foi exibindo o lado real, cru, incolor, dos homens. E constatei que nem sempre o transgressor é o único culpado de seu comportamento. Uma série de circunstâncias, um conjunto de coisas complexas o fazem transgredir. E nem a sabedoria das ciências, ainda, conseguiu transpor esse obstáculo, no sentido de evitar, ou compelir o desvio desse comportamento. O homem permanece na sua ilha, fechado, isolado, incógnito dele mesmo sobretudo.
(*) José Ribamar Garcia é jurista e escritor. Autor, dentre outros, de Além das paredes