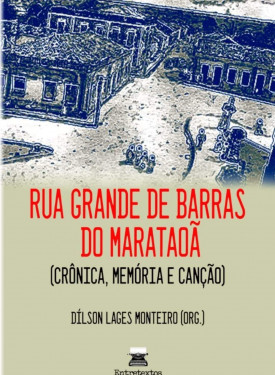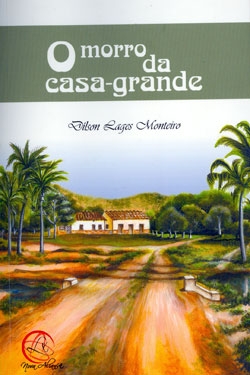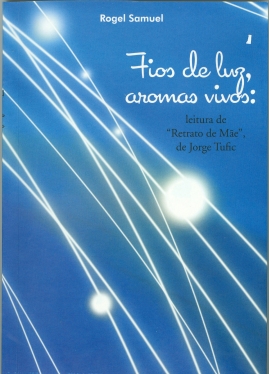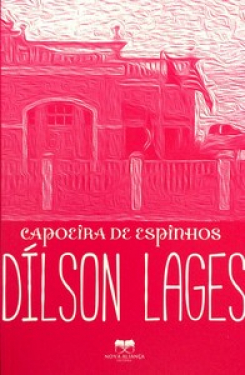História e memória da ferrovia piauiense na cidade de Parnaíba, 1916 a 1930
 Por José Fortes Em: 24/12/2013, às 09H05
Por José Fortes Em: 24/12/2013, às 09H05

O transporte ferroviário foi de grande relevância no cenário social e econômico de Parnaíba, cidade situada a 365 km da capital Teresina e a 18 km de Luís Correia e do mar. O primeiro trecho ligando Portinho a Cacimbão na região norte do Piauí foi inaugurado em 1916, sendo outros trechos inaugurados entre os anos de 1920 a 1937, atingindo cidades e povoados como Amarração (atual Luís Correia), Bom Princípio, Frecheiras, Cocal, Deserto, Piracuruca e Piripiri. Em Parnaíba, o trem de ferro, durante sessenta anos, de 1922 a 1982, fez parte do cotidiano do povo parnaibano, acompanhou o crescimento da cidade e marcou profundamente a população, que usufruiu seus serviços aos domingos em direção à praia, à festa de Bom Jesus dos Navegantes, às férias em Amarração, ao transporte de alimentos de outras localidades vizinhas, a exemplde Frecheiras e Cocal.
Nesse sentido, faz-se pertinente um estudo que contemplasse a experiência dos atores sociais que vivenciaram o movimento ferroviário através do trabalho: maquinistas, ferreiros, pedreiros, agente fiscal, etc., bem como daqueles que usufruíram desse transporte para viagens. Nessa perspectiva, pretende-se contribuir com a historiografia piauiense ao tomar conhecimento dessa discussão que, de certa forma, continua mantida no esquecimento ou, simplesmente, relegada ao espaço dos escombros da memória, já que o tema aqui proposto foi pouco estudado pela historiografia piauiense, sendo mencionado em alguns estudos1 e de forma ainda pouco verticalizada.
A proposta deste artigo é discutir e problematizar as memórias da população parnaibana, a partir de suas trajetórias de vida, assim como a forma como a ferrovia piauiense foi se constituindo e dando significados aos ferroviários a partir de suas experiências, vivenciadas não apenas nos locais de trabalho, mas também nos outros cenários sociais da cidade. Com isso, seguimos os rastros da memória ferroviária que pode ser encontrado nos lugares onde parte da população conviveu em seu cotidiano, com a locomotiva parando nas estações ferroviárias. O historiador, ao enveredar por esse caminho, pode encontrar uma história, repleta de magia e encantamento, de uma parcela da população que recebeu de braços abertos a chegada de um símbolo da modernidade – o trem de ferro. Pode deparar-se também com histórias de medo, pois havia aqueles que temiam a locomotiva que soltava faíscas no ar, provocando, muitas vezes, incêndios nas casas próximas aos trilhos de ferro e acidentes constantes que vitimavam, sobretudo, crianças.
A partir das lembranças dos diversos atores sociais do cotidiano da cidade e da estação ferroviária, buscamos velhas histórias de trabalhadores (maquinista, foguista, ferreiros, chefes de trem, etc.) que frequentaram os mais diversos espaços do mundo ferroviário em Parnaíba e outras cidades cortadas por trilhos de ferro. Esses “lugares de memória”, que representam “antes de tudo, restos” de memória e caracterizam-se por sua materialidade, simbolismo e funcionalidade.
A noção de “lugares de memória”, portanto, torna-se essencial à representação de divisão espacial significativa para os diversos grupos sociais que participaram do período de funcionamento da ferrovia e da estação ferroviária. Nesse sentido, torna-se pertinente a análise de crônicas e fontes orais, por conterem o registroda memória de diferentes indivíduos. Assim, adotamos a metodologia da história oral, por meio de entrevistas tanto de trajetória de vida quanto temática na perspectiva de seguirmos os rastros da memória de ex-funcionários da ferrovia, trabalhadores autônomos que utilizaram os espaços da ferrovia para o sustento diário, além de mulheres e velhos que buscavam nesses lugares a possibilidade de vivenciarem outras histórias. Ao utilizarmos essa metodologia cremos que “uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu” através de leitura e interpretação crítica do historiador. Com isso, seguimos o conceito de “memória trabalho” de Ecléa Bosi quando afirma que “quanto mais a memória revive o trabalho que se fez com paixão, tanto mais se empenha o memorialista em transmitir os segredos do ofício”, pois todo e qualquer trabalho, manual ou verbal, [...], acaba-se incorporando na sensibilidade, no sistema nervoso do trabalhador; este, ao recordá-lo na velhice, investirá na sua arte uma carga de significação e de valor talvez mais forte do que a atribuída no tempo da ação.
As representações da implantação das ferrovias na região nordeste do país está associada, muitas vezes, à calamidade da seca. No período imperial essas construções eram denominadas de “ferrovias da seca”, por ser nesses campos de trabalho adotado a mão-de-obra de retirantes de regiões assoladas pela estiagem. No Ceará, por exemplo, a construção da Estrada de Ferro Baturité para ligar Fortaleza, no norte, a Crato, no sul da província apresentou-se como um dos atenuantes contra a calamidade da seca que atingiu a região entre os anos de 1877 e 1889, sendo recrutados entre 20 e 30 mil homens, mulheres e crianças para as frentes de trabalho na ferrovia. Essas pessoas abarrotavam o espaço urbano das principais cidades do Ceará, sobretudo Fortaleza, sendo expostas a péssimas condições de vida: sem moradia, alimentação, vivendo em bairros da periferia sem qualquer melhoramento na infra-estrutura básica (saneamento, água tratada, luz etc.) ou esmolando no centro da cidade. De acordo com Tyrone Cândido, nesse período, como forma de diminuir o quadro de calamidade pública, os governos utilizaram a maioria desses retirantes como mão-de-obra barata na construção de açudes, portos, estradas e ferrovias. Na ferrovia os retirantes eram colocados para atuarem em diversas atividades: na limpeza, nivelamento de terrenos, assentamento de trilhos, construção de estações, depósitos e oficinas.
No Piauí, entre os anos de 1900 à 1930, a seca provocou inúmeros problemas, como a presença constante de retirantes ociosos a perambular pelas cidades, principalmente na capital Teresina. Diante desse quadro, os governos estadual e federal na perspectiva de amenizar os efeitos das estiagens contrataram diversos trabalhadores para a construção de açudes, poços, estradas e ramais ferroviários. Os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Central do Piauí foram realizados por operários provenientes, sobretudo do Ceará, fugitivos da seca que assolava sua terra natal. No Piauí, esses homens e mulheres procuravam melhores condições de sobrevivência e, muitas vezes, por onde passavam se anexavam e formavam novos povoados. Para implementar os serviços das ferrovias em solo piauiense, os engenheiros precisaram de mão-de-obra barata, sendo os cearenses uma opção.
Esses operários trabalhavam em diversos cargos: eram maquinistas, foguistas, graxeiros, chefes de trem, guarda-freios, conservadores de linha, feitores, chefes de turma, tunileiros, ferreiros, soldadores, torneiros, eletricistas, bagageiros, carregadores, etc. Esses homens eram alvos de muitos acidentes de trabalho que muitas vezes podiam levar até a morte. Em 1930, a esposa de um operário da Estrada de Ferro Central do Piauí moveu uma ação judiciária contra a União pedindo indenização depois que seu marido foi acidentado quando trabalhava na construção da estrada de ferro. Segundo o processo judicial, Trata-se de uma ação sumária movida contra a Fazenda Federal, para que esta seja condenada a pagar a D. Maria da Natividade Silva, viúva de Zacarias Braga, lubrificador da Estrada de Ferro Central do Piauí, vítima de um acidente quando, na cidade de Parnaíba, trabalhava na mesma Estrada, - soma igual ao salário de dois anos daquele operário, a razão de 5$000 diários, além de 100$000 para as despesas de enterramento.
A ferrovia guarda a história e memória de ferroviários que trabalharam de sol a sol para ver concluído um grande sonho, ver o território piauiense cortado por trilhos de ferro. São ferroviários que povoaram os mais diferentes espaços da ferrovia acompanhados de um desejo: trabalhar para o sustento próprio e de sua família.
Esses homens eram contratados para os diversos serviços: construção de pontes, pontilhões e bueiros, implantação de dormentes e trilhos, manutenção, etc. Para Francisco de Sousa Marques, trabalhador
ferroviário da Central do Piauí na década de 1950 e filho de ex-ferroviário que trabalhou na construção do primeiro trecho ligando Portinho à Cacimbão, afirmou que uma das obras mais importantes numa ferrovia é a construção de uma ponte. Francisco Marques citou o exemplo de seu pai que [...] foi um dos primeiros funcionários, ele veio pra construir, ele veio pra construir os serviços de obras artes, obras artes que chamamos era bueiros e pontes não sabe? Chamam-se obras artes, ele veio pra fazer estas construções. Primeiro veio construir os pilares da ponte lá do rio Portinho depois foi que os engenheiros veio localizar a parte metálica, já com as placas e o concreto armado.
As obras artes que Francisco Marques mencionou eram representados pelas pontes metálicas, aterros, bueiros e pontilhões, construídos ao longo da ferrovia para permitir a passagem do trem em lugares cortados por rios, riachos e pequenas serras. Na construção da Estrada de Ferro Central do Piauí foram edificadas diversas obras artes, dentre elas, podemos destacar a ponte metálica sobre o rio Portinho, inaugurada em 1922 e cuja implantação objetivava ligar a localidade de mesmo nome a Cacimbão. Atualmente essa ponte encontra-se abandonada precisando de reparos e manutenção.
A ferrovia fez parte da vida urbana onde crianças brincavam em seus trens e trilhos, mulheres e homens trabalhavam e observavam a chegada e partida da locomotiva e os velhos e os jovens compartilhavam histórias. Enfim, as estações ferroviárias funcionavam como espaço de entretenimento, diversão e trabalho para uma população ansiosa em partir na busca de uma nova vida, visitar amigos e parentes em outras regiões ou apenas percorrer os trilhos observando a paisagem que passava diante de seus olhos. No espaço ferroviário os
trabalhadores tiveram ação decisiva na implantação dos trilhos pelo país, pois de sol à sol com suas ferramentas abriram caminhos, fincaram os dormentes e trilhos, construíram assentamentos, estações e com suas famílias se anexavam em lugares remotos rumo a um destino desconhecido. Esses homens, mulheres e crianças contribuíram para o prolongamento dos trilhos em regiões distantes, para o transporte rápido e seguro da produção econômica e, sobretudo para a formação de povoados e cidades ao longo da ferrovia.
Entre a população existia também àqueles que tinham medo da locomotiva que soltava no ar faíscas que, muitas vezes, provocavam incêndios nas casas próximas aos trilhos de ferro. Francisco Marques lembra histórias de incêndios que ocorreram em “Bom Princípio, por exemplo, Bom Princípio foi o lugar que mais queimou casas por aqui. Bom Princípio sempre queimava casa, sempre. Era tal que na hora que o trem passava o povo botava água, ficava com a lata d’água”. (MARQUES, 2006) Isso demonstra que os incêndios nas casas de palha eram constantes e provocavam medo nos moradores que moravam às margens da linha ferroviária e para prevenção de possíveis desastres essas famílias aguardavam a chegada da locomotiva em frente as suas casas munidas de baldes d’água.
Os acidentes na ferrovia não diziam respeito somente aos incêndios nas casas de palha situadas às margens da linha ferroviária provocadas pelas faíscas expelidas pela máquina como, também aos riscos constantes de atropelamentos de crianças que insistiam muitas vezes em brincar à beira ou sobre os trilhos arriscando suas vidas. No jornal A Semana, em 1916, o cronista Paulo de Tarso registrava uma denúncia: O maquinista da locomotiva Piauhyense procurou nesta segunda o Sr. Coronel delegado de polícia para pedir-lhe providências no sentido de evitar que os meninos continuem a trepar-se na linha férrea, propositalmente, ao aproximar-se a locomotiva e só de lá saírem no último momento.
Achamos ter toda razão o Sr. maquinista, pois, por qualquer escorrego, pode ser um dos meninos afoitos sair dali já nos últimos momentos.
Temos visto mais de uma vez, grupos deles se assentarem e até mesmo deitarem sobre os trilhos, a charquear e com grande perigo de vida só de lá se retirarem depois da máquina estar muito perto, apesar dos constantes, ininterruptos e repetidos apitos.
O medo da locomotiva também veio acompanhado pela admiração da população do interior pelo novomeio de transporte que aparecia e pela sua velocidade e segurança em se transportar as mercadorias e os
passageiros. Nesta notícia podemos constatar que a ferrovia piauiense funcionava como transporte de passageiros, permitindo o movimento das pessoas de outros povoados da região norte do Estado até Parnaíba.
Para Cecília Nunes, a ferrovia marcou “parte da população do interior piauiense” por significar a chegada do “novo” que “produz imagens que passam a povoar a mente das pessoas de novas idéias e novas ações, de novos costumes e novos valores, revelando, assim, novas relações, símbolos e evidências”. Ao seguir os rastros deixados pelos depoimentos realizados em Parnaíba, Nunes percebe que a locomotiva fez parte do cotidiano da população parnaibana marcando-a sensivelmente, pois: [...] Essas pessoas viam o trem como algo fantástico, maravilhoso, de grande utilidade, pois transportava pessoas, animais, pedras, madeiras, carga de cereais e frutas para outros locais do Piauí e também algo do extrativismo vegetal para fora do Estado através de Parnaíba. Segundo essas pessoas, deveria “está no céu quem criou a locomotiva”. (NUNES, 1996, p. 98) A ferrovia, portanto, marcou época na cidade de Parnaíba e representou um importante transporte de mercadorias e passageiros deixando nas pessoas uma reconfortante sensação de, por mais distantes que estivessem, estarem ligadas ao mundo, de serem civilizadas e contemporâneas. A memória ferroviária piauiense se encontra nos lugares onde parte da população conviveu em seu cotidiano com a locomotiva parando nas estações ferroviárias das cidades do interior. Como podemos alcançar essa memória? Através das fontes orais e das crônicas produzidas pelos habitantes das cidades dotadas de trilhos e estações ferroviárias. As crônicas, por exemplo, representam a memória escrita daqueles que escolheram deixar de herança para outras gerações lembranças de seu tempo. Algumas crônicas parnaibanas trazem memórias de “tempos que não voltam mais”, de uma cidade ainda com traços provincianos e que acompanhava lentamente o progresso de outras regiões do país. Na década de 1930, dentre os inúmeros símbolos modernos inseridos no cotidiano da cidade de Parnaíba, o trem marcou significativamente a memória de Goethe: Para a garotada do meu tempo, dezembro era um mês maravilhoso.
Época de férias, os rapazes e moças conterrâneos que estudavam fora de Parnaíba voltavam para a casa. Para cada um que chegara,
organizávamos festinhas de boas-vindas. Mas o evento principal, sem dúvida, eram as festas comemorativas do Natal, principalmente do dia 24 de dezembro, que culminavam com a Missa do Galo.
Chegava gente por todos os lados da cidade e de todas as maneiras: de trem, a pé, a cavalo e até de canoa. O centro de convergência dessa multidão que se somava ao povo do lugar, era a Praça Nossa Senhora das Graças, a principal praça de Parnaíba.
O trem, o Maria Fumaça de bitola estreita, que vinha desde o terminal de Piracuruca, apanhava sua lotação total nas estações intermediárias de Freicheiras, Bom Princípio, Cocal e etc., para onde convergiam as inúmeras pessoas que moravam perto dessas estações, em sítios e roçados, e que, juntos, demandavam à Parnaíba.
O cronista percebeu a ferrovia, juntamente com outros meios de transporte, como meio que foi capaz de possibilitar a movimentação de “gente por todos os lados da cidade” para acompanhar as festas natalinas.
Nesses momentos a cidade se enchia de uma “multidão” proveniente de outras cidades e povoados e “se somava ao povo do lugar” convergindo para o principal espaço festivo de Parnaíba: a Praça Nossa Senhora das
Graças. A memória do cronista se apoiou “nas pedras da cidade” e escolheu “lugares privilegiados de onde retirou sua seiva”. (BOSI, 2003, p. 200) Esses lugares são os espaços festivos da cidade (as praças, a igreja, etc.) onde a população convergia para encontrar parentes e amigos.
Outros memorialistas traduzem em suas crônicas sentimentos saudosistas de um tempo em que o trem acompanhou as vivencias de infância, principalmente no período das férias quando os parnaibanos rumavam
em direção à Amarração na busca dos banhos de mar ou dos festejos religiosos. Carlos Araken, em tom nostálgico, lembra das “férias de junho em Amarração”, pois considerava “uma aventura gostosa a viagem de trem Parnaíba/Amarração”:
A “Maria Fumaça” brilhando e fumegante, soltando fagulhas pela chaminé, os vagões que formavam o comboio; primeiro o carro de
carga e logo os de 1ª e 2ª classe. Às 17hs o trem apitava anunciando a partida. Os últimos retardatários, carregados de pacotes de pães e biscoitos, escapando pelos dedos, eram empurrados para o vagão. Todos se acomodavam; muitos sentados, muitos de pé, proseavam sobre os acontecimentos do dia. Com um apito longo o trem deixava para trás a zona urbana, e eu com os olhos compridos, tentava vislumbrar na casa amarela encimada com uma estrela branca (meus avós paternos) algum vulto amigo.
Passávamos o São João, agora todos já descontraídos, chegávamos ao Catanduvas. Mais duas paradas Floriópolis e Berlamina, e já divisávamos a velha e fascinante ponte de ferro sobre o rio Portinho. O ranger oco das rodas de ferro sobre os trilhos, a fumaça do trem, a altura da ponte, que se nos afigurava enorme, com o rio caudaloso lá embaixo, as fagulhas entrando pelas janelas, o medo do enxame dos maribondos que podiam atacar, tudo conspirava para aumentar o medo, e dar asas à nossa imaginação infantil.
Respiração presa, até o trem chegar novamente em terra firme. Outro apito prolongado e triunfante, passávamos o Cemitério Branco, os primeiros casebres, e logo a estação cheia de gente, principalmente de meninos já com a cor local, para saudar efusivamente os recém-
chegados. Todos muitos limpos, e de tamancos, muitos à vontade naquela verdadeira terra prometida. A chegada era uma festa.
Todos falavam ao mesmo tempo, davam ordens e faziam perguntas. Trouxe as bolachas? E a carne? Peixe que é bom, hoje não apareceu. Fomos à Atalaia pela manhã, o João se queimou com uma caravela. O banho do trapiche hoje a tarde foi sensacional!
Nessa citação, o cronista faz o itinerário de viagem do trem que saía de Parnaíba rumo ao litoral (Amarração), no período de sua infância. Nessa memória, constatamos impressões e sentimentos, principalmente de medo. O medo se fazia presente pelo “ranger oco das rodas de ferro sobre os trilhos”, da fumaça, da “altura da ponte” sobre o rio Portinho, das “fagulhas” que entravam pelas janelas e dos “enxames de maribondos” a ameaçar os passageiros. Desde quando foi inventado, o trem provocou diversos sentimentos: medo, desconfiança, susto e fascínio – medo da velocidade, susto dos apitos estridentes e do “novo” mecanismo; fascínio pela máquina que soltava fumaça e faíscas no ar. A ferrovia representou para a população piauiense nesse período uma conquista importante para os transportes da produção, pois ainda se utilizavam para transportar as mercadorias o cavalo e o carro de boi. A população do interior passou a conviver em seu cotidiano com homens trabalhando na construção da estrada de ferro e, ao mesmo tempo com a esperança de dias melhores, pois representou: [...] uma fase de desenvolvimento para o comércio local [parnaibano], e a população sentia-se feliz por ver, também, os produtos da terra, como: algodão, cera de carnaúba, serem levados a outras cidades, realizando assim, um intercâmbio comercial.
As ferrovias quando de sua implantação transformaram paisagens fazendo parte das representações do próprio espaço das cidades. Elas eram representadas de diversas maneiras pelos moradores que tiveram seus hábitos e costumes moldados pela técnica ferroviária. Nesse sentido, a memória de uma cidade se constrói com os vários símbolos que fizeram parte de sua história. As estações ferroviárias, por exemplo, guardam em suas paredes, em suas plataformas, em seus trilhos, o murmurinho das pessoas em dias em que o trem “quando em
movimento, produzia um barulho rústico e deixava o ar envolvido por rolos de fumaça escura, enquanto seu estrídulo apito chamava a atenção da população”. Em Parnaíba o espaço da estação ferroviária tinha vários significados: sociabilidade, diversão e trabalho. Enquanto espaço de sociabilidade a estação funcionava como centro de convergência da população proveniente de diversos lugares da região e a chegada do trem representava a alegria da chegada e a tristeza da partida de parentes e amigos, além de [...] alegrar as tardes de quarta e sexta-feira, chegando a esplanada da estação de Parnaíba com sua composição repleta de frutas para vender, animais para abate, beijus, farinha, goma e as gostosas tapiocas de Marruás tão apreciadas por todos.
Nas cidades que não há mais movimento ferroviário, em geral, tiveram os trilhos arrancados e as construções ocupadas pela prefeitura, que geralmente transformam as estações em museus, como forma de preservação da memória ferroviária. O complexo arquitetônico mais importante da Estrada de Ferro Central do Piauí foi a estação ferroviária de Parnaíba, inaugurada em 1920 e situada na região central da cidade, no cruzamento das atuais avenidas Chagas Rodrigues e Presidente Getúlio Vargas (Antiga rua Grande). Essa estação apresenta um importante conjunto de edificações composta de plataformas, rampas, prédios onde funcionavam a Inspetoria de Telégrafo e Iluminação, a Tipografia, a Caixa D’água, além de um espaço do
velho curral, onde desembarcava o gado transportado pelo trem. Os primeiros trilhos chegaram à cidade depois de implantados no litoral, ligando Amarração a Parnaíba. Nessa cidade, os trilhos se conectavam em um prédio conhecido como Guarita (Atual bairro São Francisco), onde era feito o desvio da estrada de ferro Cocal ou Igaraçu e, em seu entorno foram construídos casebres onde morava a maioria dos trabalhadores da ferrovia, além de estabelecimentos comerciais “começando assim um comércio com seus famosos cabarés e cortiços”.
Atualmente, a estação abriga um pequeno e representativo museu, o Museu do Trem do Piauí, inaugurado em 2002. Foi criado através de convênio entre a prefeitura de Parnaíba e a Rede Ferroviária
Federal S. A., que concedeu à prefeitura todo o terreno do parque da antiga estação de passageiros com seus diversos imóveis e uma coleção de peças e equipamentos da época de funcionamento da ferrovia. No acervo material deste museu, podemos encontrar um aparato completo que auxiliava os operários e passageiros da ferrovia como uma estação de passageiros, pátio de manobra, inspetoria de transportes e comunicação, arquivo, almoxarifado, posto médico, tipografia e uma oficina de manutenção das linhas férreas, da locomotiva, dos vagões, locomoveis, gôndolas, trolleys, etc. Além de fotografias que retratam a história da ferrovia (do primeiro engenheiro, Miguel Furtado Bacelar, das antigas locomotivas, de operários, do universo do trabalho, etc.) e
equipamentos de apoio da estação e dos funcionários (relógios, cadeiras de passageiros, telefones, carimbos, alicates perfuradores de passagens, carregador de bateria, relógio de pressão, tacógrafo de locomotiva, máquinas de calcular, dentre outros).
A história ferroviária piauiense pode ser narrada por diferentes interlocutores e percebida por diversos olhares: do cronista viajante ao trabalhador ferroviário. O estudo que detém a discussão de cidade pelo viés das representações em torno dos símbolos que fazem parte de seu imaginário social – neste caso, a ferrovia, é possível à medida que nos fornece uma multiplicidade de discursos, tanto para pensar a produção de sentido no espaço urbano, como a análise dos discursos que dizem sobre os lugares sociais: as estações ferroviárias. É desse ponto que se fazem necessários estudos que compreendam esses lugares focalizando uma análise nos modos de agir e pensar de homens e mulheres que vivenciaram o espaço urbano e seus símbolos de modernidade. Nesse sentido, este artigo fornece ao leitor uma contribuição importante ao ampliar a sua capacidade de distinguir os diferentes olhares sobre a ferrovia e, ao mesmo tempo tomar conhecimento de uma história ainda a ser narrada: a memória da população e dos trabalhadores ferroviários acerca das ferrovias no Piauí.
Fonte:Lêda Rodrigues Vieira, no XXV Simpósio Nacional de História (Fortaleza CE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Departamento de Ciências Econômicas e Quantitativas
Núcleo de Pesquisas e Estudos Econômicos
Campus Ministro Reis Velloso