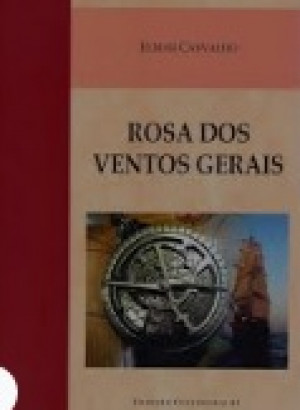Há um Davidson entre Rorty e Habermas.
 Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 15/12/2014, às 16H12
Por Paulo Ghiraldelli Jr Em: 15/12/2014, às 16H12
[Paulo Ghiraldelli Jr.]
Habermas – o aluno rejeitado de Adorno. Não é injusto? Habermas – o amigo de Rorty. É estranho? Habermas – frankfurtiano. Ainda vale dizer isso assim, sem mais? Habermas – pragmatista. É correto afirmar isso?
Quatro perguntas, quatro afirmações e quatro histórias, mas um único Habermas. Único, mesmo? Quase. É comum dizer de alguns filósofos, como Foucault, por exemplo, que eles tapeiam seus seguidores, mudando de curso inesperadamente. Os seguidores primeiros de Habermas teriam menos vontade de dizer isso. Mas, para Habermas, também vale o que é dito de outros filósofos espertos.
Habermas começou a filosofar em busca de uma posição frankfurtiana, sem dúvida, mas não negativa, mais positiva, ou melhor, prospectiva. De modo não muito demorado, esboçou o que depois veio a ser a Teoria do Agir Comunicativo. Os incautos acreditaram que se tratava de uma “teoria da comunicação humana”. Não era. A tal Teoria era um enorme esforço, a partir de bases científicas variadas, de mostrar que ainda era possível fazer filosofia em um sentido tradicional do termo, ou seja, como busca de fundamentos. O Fundamento, que Platão, ao menos por um tempo, acreditou estar nas Formas, e que Descartes viu na certeza do Cogito, Habermas apontou na linguagem, ou melhor, na comunicação lingüística.
Este foi o trabalho de Habermas em filosofia. Sua Teoria do Agir Comunicativo não era uma teoria da comunicação e, nem mesmo, uma teoria a respeito da ação de comunicação, mas era e é, sim, uma teoria filosófica em que a comunicação, ao se exercer, analisada segundo uma determinada ótica, fornece as bases fundacionais da intelecção humana, recompondo a epistemologia para a filosofia e, senão é propriamente a reconstrução de um projeto quase metafísico, é, de fato, um conjunto teórico que mostra garantias para a filosofia. É uma teoria que permite dizer: eis aí como que nossa capacidade de conhecimento não recebe louvor em vão, pois ela de fato tem seu direito de reclamar por alguma glória. Não era o projeto de Adorno. Mas nasceu de uma brecha consentida por Adorno em seu aparente negativismo.
Habermas começou frankfurtiano e se tornou pragmatista. Quando foi frankfurtiano, não aderiu à Escola de Frankfurt em sua característica mais forte. Como pragmatista, apenas assumiu um modo de ver a verdade que lembra muito John Dewey e, evidentemente, um apreço incansável pela democracia.
Mas, como que Habermas se tornou amigo de Rorty, aquela pragmatista que abdicou da filosofia como busca de fundamentos e, ainda que amante da democracia, chegou a afirmar que esta era o campo de possibilidade da filosofia, e não o inverso? Teria sido só pelas afinidades políticas que Rorty e Habermas chegaram a uma boa amizade?
Rorty diria: você diz “só”? Mas compartilhar posições políticas democráticas já não é muito? Não digo que é pouco, mas isso, para pessoas comuns. Mas, para filósofos, não haveria mais que isso? Não deveria haver mais? Não haveria mais que isso no caso em que, de fato, estamos diante de uma amizade que foi consolidada ao longo de vinte anos de críticas mútuas?
Não há dúvida que Habermas, como Sartre para a França e Dewey para os Estados Unidos, serviu como consciência de sua pátria, a Alemanha. Quem sabe senão de toda a Europa? E isso era algo que Rorty apreciava como ninguém enquanto autêntica tarefa do filósofo. Ele próprio, ao menos nos últimos vinte anos de sua carreira, também exerceu esse papel, encarnando o espírito daquele que deveria recuperar para o mundo, e em especial para os mais generosos nos Estados Unidos, a idéia de que a “América” não era um continente nem um país, em sim um sonho – o sonho de liberdade concretizada por meio do pedido de que, no futuro, pudéssemos ser “versões melhores de nós mesmos” e, com isso, e só com isso, estivéssemos onde estivéssemos, poderíamos nos ver como americanos – pessoas melhoradas: mais livres, mais ricas, mais complexas certamente. Essa forma de fazer filosofia fez Rorty e Habermas se aproximarem. Todavia, para isso, eles abriram mão de conversar sobre aquilo que nos aspectos mais técnicos da filosofia, enraizava-se a divergência entre eles, o inseparável muro entre fundacionismo e não-fundacionismo?
Os filósofos acertam pouco quando apontam as divergências entre Habermas e Rorty. Não passam de nomear rótulos. Os professores de filosofia erram tanto quanto. Os erros são devidos a um receio de ter de enfrentar o seguinte problema: Rorty e Habermas não divergem entre si diretamente, mas divergem entre si na medida em que o pragmatismo de Rorty tem uma dívida especial para com Donald Davidson, enquanto que Habermas, por sua vez, não compartilha da filosofia com atividade exclusivamente descritiva, como é a de Davidson. É nisso que a divergência se encerra. Todo o resto é contingente e, de certo modo, removível.
No núcleo da questão o que é a linguagem é que se encerra toda a divergência entre Habermas e Rorty. Pois, Rorty acreditou (talvez até mais que o próprio Davidson ou, ao menos, em uma forma radical de interpretar a fala de Davidson) em uma das mais fantásticas frases que um filósofo contemporâneo poderia ter pronunciado, a de Davidson, a saber, a de que “não existe algo como a linguagem”. Tenho a tendência, no meu próprio filosofar, de levar essa frase tão a sério quanto Davidson queria que a tomássemos. E, então, sei bem o que é ter de arcar com isso diante de um filósofo como Habermas que jogou todas as suas fichas de possibilidades de ainda se falar em filosofia como projeto no qual a razão tem todas as suas pernas e braços em funcionamento, exatamente na medida em que são energizados pelo que é notado de intrínseco à linguagem. Resumindo ao máximo: o lugar em que Habermas encontra a possibilidade da filosofia, a possibilidade de que o intelecto não atue a esmo, que é a linguagem, é vista pelo herói de Rorty – e meu – como aquilo que não existe.
É claro que Davidson complementa a frase e diz que ele afirma que não existe a linguagem como aquilo que “os lingüistas chamam de linguagem”. Mas, se é que isso livra Davidson de alguns críticos, em nada melhora o nosso caso aqui, pois, como Habermas vê a linguagem, ela é, sem dúvida, muito do que os lingüistas assumem que ela é, sem contar uma série de filósofos.
A linguagem, independentemente de ser tomada como inata ou aprendida, é um conjunto de práticas compartilhadas pelos seus usuários – é assim que Habermas e muitos a tomam. Não é o caso de Davidson. A linguagem, ou qualquer coisa próxima disso, é um nome que damos para algo que ocorre após o entendimento mútuo ou, melhor dizendo, a comunicação. Fiel a um tipo de interpretação com raízes em Dewey e Quine, o que Davidson diz é que aquilo que chamamos de linguagem é a comunicação com êxito, de alguma maneira já catalogada entre nosso elenco de arrumar ferramentas em nossa caixa de trabalho. Mas, antes de encontrarmos, ou melhor, de forjarmos os caminhos pelos quais a comunicação ocorre, nada há a não ser os estímulos comuns do meio, que compartilhamos, como outras duas pontas de um triângulo no qual se estabelece um campo em que pode haver uma interação. Neste campo os participantes se observam e, além disso, levam adianta a observação conjunta do ponto comum e, então, se observam em reação ao ponto comum que notam. Então, se daí surgir alguma possibilidade de que determinadas frustrações e expectativas com os que se observam e observam o ponto comum se efetivem, pode surgir o fenômeno da comunicação, o que, depois, poderá vir a ser chamado de linguagem. Poderemos até, depois, inventar um debate sobre se o que catalogamos sob a rubrica de linguagem é algo adquirido ou inato, mas aí já teremos perdido o fio da meada, teremos deixado de lado que o que houve não se deu a partir da linguagem, e sim a partir da comunicação que se realizou ou, o que é o mesmo, que teve êxito. O que funcionou nessa triangulação foi algo que poderíamos chamar de imaginação.
Não há uma atividade de intelecção intersubjetiva por causa de que a linguagem é uma estrutura (inata ou aprendida) que se faz, antes de tudo, como uma instituição que só é poder se já foi entendimento. Então, não há a linguagem em um sentido que pode ser aceito por Habermas. Quando assumimos Davidson, neste grau, estamos divergindo de Habermas quanto ao núcleo de sua filosofia, de sua Teoria do Agir Comunicativo. Mas o que faz os filósofos e professores de filosofia, então, tropeçarem nas comparações que fazem entre Rorty e Habermas? Ora, eles tropeçam por conta de um detalhe: a divergência entre Rorty e Habermas, que tem Davidson ao centro, não implica em impedi-los de dizer, todos os três – e eu com eles –, que a objetividade é um produto intersubjetivo. Sim, é, sabemos disso. Mas, quem diz isso por causa de ser davidsoniano está fazendo uma afirmação muito mais descritiva do fenômeno da comunicação do que quem diz isso por conta de ser habermasiano. O esquema da triangulação davidsoniano é relativamente simples. Descreve bem como que a comunicação ocorre sem que tenhamos necessidade de recorrer a pontos de vista filosóficos mais complexos, que impliquem em outras filosofias ou, mesmo, aparatos de teorização científica, como é o caso de Habermas.
Fica muito difícil para Habermas abandonar algo que custou muito para a filosofia, calçada em uma longa tradição de crença na atividade racional como inerente a uma expressão cara aos europeus, a “condição humana”. Fica muito fácil para Davidson, tendo sido herdeiro de Quine, não apostar em qualquer coisa que possa ser chamada “condição humana”, ficando apenas com a comunicação entre dois seres que pareciam que poderiam se comunicar na medida em que se entreolhavam e olhavam também para um terceiro ponto, que parecia ser um estímulo compartilhado.
Assim, eis aí o núcleo de divergências entre Habermas e Rorty. Há algo que os impeça de apostar que para a verdade, sendo qualidade de enunciados, é algo a que chegamos a partir de consensos contingentes? Não. Então, não podem eles, sendo ambos democratas, ter posições sobre especificidades da política, bastante comuns? Sem dúvida! Foi isso que ocorreu e que deu para nós um exemplo de amizade intelectual das mais emocionantes, nos últimos quarenta anos.
PAULO GHIRADELLI JR., doutor e mestre em filosofia pela USP; doutor e mestre em filosofia da educação pela PUC-SP, livre docente e titular pela UNESP, pós-doutor em medicina social pela UERJ. Diretor do Centro de Estudos em Filosofia Americana – http://www.pragmatismo.com. Editor da Contemporary Pragmatism de New York