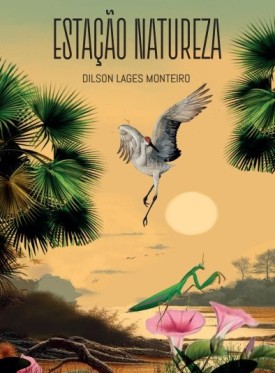Dia de arrumação
 Por Raphael Cerqueira Silva Em: 17/08/2025, às 11H39
Por Raphael Cerqueira Silva Em: 17/08/2025, às 11H39

Remexendo caixas há muito esquecidas na garagem, encontro — perdida entre revistinhas e traças — uma fita K-7. Sopro a poeira; deixo os dedos passearem sobre Leandro e Leonardo — um de blazer vermelho, o outro de azul.
Em momentos assim, é impossível conter as recordações.
A mãe comprou essa fita num camelô. Naquele tempo — não sei como é hoje em dia: as coisas mudam de forma tão assustadora — havia várias barracas perto da rodoviária. Vendiam de tudo: meias, cuecas, brinquedos, cigarros, rádios de pilha, tantas outras bugigangas vindas do Paraguai. Enquanto passávamos rumo à praça, eu ficava olhando os carrinhos de fricção, um mais bonito que o outro.
Íamos muito a Viçosa, quase sempre aos sábados.
Almoçávamos no Lanches Lu — que, tenho certeza, sucumbiu à fome progressista e deu lugar a um prédio medonho. Que pena. Brinquei tantas vezes no seu parquinho enquanto o garçom não trazia nossa refeição. Na varanda, tomávamos Pepsi — engraçado, naquele restaurante nunca tinha Coca, só Pepsi — sentados em pesadas cadeiras de madeira.
Mais tarde, um Yopa na mão, passeávamos pelo campus: capivaras modorrentas à beira da lagoa, ipês em flor, estudantes de mãos dadas sob as árvores, canteiros coloridos de beijinhos, carpas douradas no espelho d’água do Centro de Vivências, quero-queros correndo no gramado, uma ou outra bicicleta desafiando a prudência e as leis da Física.
Num desses sábados, caminhávamos para o estacionamento do shopping quando a mãe parou numa daquelas barracas. Olhou as fitas na banca, escolheu uma.
Dia ensolarado. Não ouso, porém, afirmar que fosse primavera. Nas minhas lembranças – e, enquanto escrevo, vejo nosso Chevette na estrada, pastos e gado, cercas e fazendas ficando para trás – o dia estava claro e agradável. Descíamos a serra com os vidros fechados. “Pra gente poder ouvir melhor o som”, o pai dizia — ele sempre dizia isso ao ligar o toca-fitas.
Recordo o caminhão cuspindo fumaça azulada à nossa frente, a frase no para-choque — bobo é assim: tudo que vê, lê —, eucaliptos cortados perto do trevo, queimadas devorando árvores e mato nos dois lados da pista, carros vindo em sentido contrário.
Não sei se a memória é zombeteira, porém fico com a impressão de que havia menos carros no meu tempo de menino. Com a cabeça enfiada entre os bancos da frente, eu contava quantos carros azuis, quantos vermelhos, quantos brancos como o nosso cruzavam a estrada.
Vejo, nítido, a mãe sorrir com a canção que falava dum engraçadinho que, à meia-noite, apagava o lampião. Não guardei bem os versos — talvez nem tenha entendido direito —, mas achei engraçado quando, lá pelo meio da música, a dupla comia batom. Eu também adorava Baton e vivia pedindo ao pai para comprar um monte na padaria do Zizinho.
De súbito, uma barata passa correndo entre meus pés, tromba na quina duma caixa. Parece bêbada, a infeliz. Bêbada de tanto zanzar pelo esgoto desta garagem que fede a mofo e abandono. Agora, desapareceu atrás do velho armário. Vou deixá-la quietinha — até recuperamos o fôlego.
Enquanto isso, continuo a arrumação.
Ajeito a K-7 na caixa, entre uma pilha de revistas do Zé Carioca e outra do Cascão. Não será desta vez que vai para o lixo: ainda tem muitas histórias para contar.