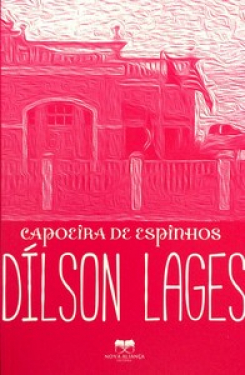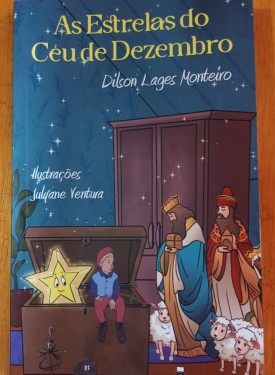A professorinha e eu
 Por Galeno Amorim Em: 02/08/2011, às 16H34
Por Galeno Amorim Em: 02/08/2011, às 16H34
[Galeno Amorim]
Os bambambãs que entendem do assunto costumam dizer, com o respaldo de organismos como a Unesco, que para se formar uma gente que lê é preciso reunir algumas condições. A primeira delas, lógico, é o sujeito ter aprendido a ler e a escrever e saber manejar, minimamente, a língua e entender o sentido das palavras e frases que lê.
Mas não é só.
Precisa também viver em algum lugar onde existam livros, jornais e revistas (agora também a internet) - ou seja, haver por lá livraria ou uma boa biblioteca. E, naturalmente, ter acesso a elas. E ajuda muito se o cidadão tiver nascido numa família leitora, em que os livros são algo banalizado, se espalham pela casa e podem ser encontrados por toda parte, seja no banheiro, na cozinha, seja no quarto de dormir.
Na cidade onde passei toda minha infância e a juventude - Sertãozinho, então com 35 mil habitantes, no interior de São Paulo - não existia, propriamente, o que se poderia chamar de livraria. Era uma encantadora papelaria, ao redor da praça da Matriz, que cumpria, sobretudo no início do ano letivo, esse papel.
Cresci, ainda, numa família que não possuía, exatamente, uma grande tradição leitora. Quase todo mundo ali dava um duro danado na roça de sol a sol, ou então se ocupava de algum outro trabalho braçal. A mãe, a mais velha de um punhado de filhos de imigrantes da Calábria, sentia muito de não ter podido ir à escola. Vez ou outra aparecia algum exemplar puído das seleções Reader's Digest.
Mas eis que a mais nova dos oito irmãos, todos bem mais velhos do que eu, enfiou na cabeça que devia estudar. Pior: queria porque queria cursar o Normal. Formou-se com muito custo e foi dar aula numa fazenda. Por algum tempo, me acordava de madrugada e me levava com ela na viagem diária que mesclava trechos de ônibus com outra parte numa charrete.
Achava lindo ver aqueles meninos e meninas de idades variadas – mas todos bem mais velhos do que eu, que sequer era alfabetizado - chegando com seu único livro debaixo do braço. Provavelmente, era a cartilha, pela qual aprendiam o bê-á-bá (anos depois alguns deles me diriam ter conseguido seu lugar ao sol, já na cidade, graças aos estudos e a livros como aqueles).
Mas um dia a professorinha se casou e mudou. Com ela, foram embora todos os livros da casa (que, por sinal, eram todos seus!): meia dúzia de obras escritas por um certo José Bento Monteiro Lobato, que seriam lidas, nos meses e anos seguintes, com um misto de sofreguidão e alegria. Para lê-los - ou relê-los, o que faria mais de uma vez - eu caminhava bons quilômetros todo santo dia. Só mais tarde descobriria os prazeres da biblioteca pública - mas isso já é uma outra história...
O certo é que aquela professorinha foi me apresentando, um a um, os livros e as histórias. Ah, e que histórias... Era da mesma forma e igual alegria e disposição, além de um fervor quase religioso, com que tratava seus alunos - uns pequenos, outros marmanjos - da gloriosa escola mista da Fazenda Palmital, onde tudo se misturava docemente.
Quase meio século depois, e duas aposentadorias nas costas, a professorinha ainda segue dando aulas numa escola pública de periferia. Até hoje ajuda suas crianças a descobrir o gosto pelos livros e pela literatura. E, assim, a formar leitores.
A boa notícia: felizmente tenho encontrado, e cada vez mais, País afora, onde vou falar sobre livros e o poder extraordinário que a leitura pode exercer numa sociedade, centenas e centenas de outras Elizabeths - é esse o nome dela! São professores que gostam de ler e, por isso mesmo, dão aulas e ajudam a formar, com paixão e encantamento, outras gerações de leitores.
O que não deixa de ser alvissareiro. E a garantia de que o Brasil caminha, seguramente, no rumo bom. E que, talvez, esteja mais perto do que se pensa o dia em que se tornará um País melhor e mais justo. Para todos. Olhando para todas elas, fico cada vez mais convencido de que é só uma questão de tempo